
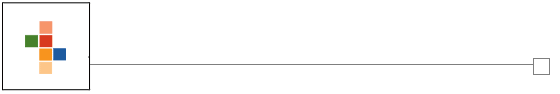
MESA REDONDA
Pesquisa Contemporânea
em Análise do Comportamento Humano Complexo
Proponentes: Emmanuel Zagury Tourinho - Universidade do Pará
"Variáveis Envolvidas no Controle por Regras"
Autor(a): Carla Paracampo - Universidade Federal do Pará
Distinção entre o comportamento modelado por contingências e o comportamento governado por regras.
A distinção entre o comportamento modelado por contingências e o comportamento governado por regras, introduzida na literatura por Skinner na década de 60, vem gerando uma série de estudos que, de um modo geral, têm contribuído para esclarecer o controle exercido por regras sobre o comportamento humano. De acordo com Parrott (1987), o estabelecimento desta distinção na literatura possibilitou a explicação de inúmeros exemplos de comportamentos que não pareciam ter sido adquiridos por meio da exposição direta às contingências de reforço.
De acordo com Skinner (1980), o comportamento modelado por contingências e o comportamento governado por regras estão sob tipos distintos de controle de estímulos e são, portanto, operantes distintos. O primeiro é modelado por suas conseqüências e o último é estabelecido através de uma descrição antecedente das contingências de reforço (Catania, 1999; Skinner, 1980). Estes comportamentos ocorrem sob controle de condições antecedentes diferentes. Diferente do comportamento modelado por contingências, todo comportamento governado por regras é antecedido por uma descrição de uma contingência de reforço. Isto é, de uma descrição do comportamento a ser executado, das condições sob as quais ele deve ser executado e de suas prováveis conseqüências (Parrott, 1987). Assim, o comportamento governado por regras está mais sob controle de antecedentes verbais do que das relações entre o responder e suas conseqüências imediatas. Ao contrário do comportamento modelado por contingências, que é diretamente controlado pelas relações entre respostas e suas conseqüências (Catania, Shimoff, & Matthews, 1989; Hayes & Hayes, 1989; Paracampo; 1991; Vaughan, 1989).
Uma outra característica que também permite distinguir o comportamento modelado por contingências do comportamento governado por regras é que, quando o comportamento é inicialmente estabelecido por regras, ele é menos provável de mudar acompanhando mudanças nas contingências de reforço do que quando o comportamento é estabelecido por modelagem (Catania, 1999; Shimoff, Catania, & Matthews, 1981). O comportamento modelado por contingências também pode ser distinguido do comportamento governado por regras pela maneira através da qual regras e contingências restringem a variabilidade do comportamento. O comportamento governado por regras geralmente não apresenta variação em relação à regra. A topografia da resposta, na maioria das vezes, está descrita na regra e o indivíduo emite a resposta antes mesmo que as conseqüências possam exercer algum efeito sobre a mesma; ou seja, no comportamento governado por regras os padrões de respostas são produzidos sem exposição direta às contingências de reforço. Em contraste, o comportamento modelado por contingências pode inicialmente apresentar grande variabilidade, e uma longa exposição às contingências pode ser necessária antes que o padrão de respostas desejado seja selecionado (Joyce & Chase, 1990).
Considerando estas características do comportamento governado por regras, pode-se sugerir algumas condições a serem observadas para que se possa dizer que um comportamento foi estabelecido por regras: a) o comportamento deve ser antecedido por uma regra; b) a forma do comportamento que se segue a apresentação da regra deve corresponder à descrita na regra e; c) este comportamento deve ocorrer antes mesmo que as conseqüências por ele produzidas possam exercer algum efeito (Albuquerque, 1991, 1998; Paracampo, 1991).
Na literatura tem sido sugerido que a principal função de regras é a de substituir as contingências de reforço no estabelecimento de comportamentos novos (Catania, 1999) e que regras são seguidas devido a uma história de reforçamento social para o responder de acordo com regras (Catania e cols., 1989; Catania, Matthews, & Shimoff, 1990; Hayes, Zettle, & Rosenfarb, 1989; Skinner, 1980). Esta história geraria um responder generalizado para responder de acordo com regras. Deste modo, o comportamento governado por regras seria um operante de ordem superior (Catania, 1999). Conseqüências sociais (arranjadas por uma comunidade verbal ao longo da história do indivíduo) para responder de acordo com regras, seriam as conseqüências responsáveis pelo estabelecimento e manutenção deste operante (Catania e cols., 1989, 1990, 1999). Conseqüências atuais produzidas por exemplos individuais de seguimento de regras particulares, seriam conseqüências que poderiam alterar a probabilidade de certos comportamentos de seguir regras virem a ocorrer no futuro (Baron & Galizio, 1983; Chase & Danforth, 1991; Joyce & Chase, 1990; Perone e cols., 1988), mas não a sua probabilidade presente. A sua probabilidade presente seria determinada pela história do ouvinte (Hayes e cols., 1989). Zettle e Hayes (1982) têm defendido que o seguimento de regras pode estar sob controle de duas fontes de variáveis distintas. Assim, propuseram dividir o seguimento de regras em pelo menos duas unidades funcionais: Pliance e tracking. De acordo com estes autores, pliance é o comportamento governado por regra sob controle de uma história de conseqüências mediadas socialmente para o comportamento que corresponde ao especificado pela regra e tracking é o comportamento governado por regra sob controle de uma história de correspondência entre a regra e as contingências naturais contatadas pelo comportamento especificado pela regra (ver também Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb, & Korn, 1986; Hayes e cols., 1989; Hayes & Wilson, 1993).
De acordo com Zettle e Hayes, um pliance somente é um pliance se o ouvinte está sob controle das conseqüências mediadas pelo falante para o seguimento de regra. Isto pode ser determinado pela sensibilidade que o comportamento mostra às variáveis que afetam as conseqüências mediadas pelo falante, tais como: a) a habilidade do falante em monitorar o seguimento de regra; b) habilidade do falante para liberar conseqüências; c) a importância da conseqüência para o ouvinte e d) outras (como a credibilidade do falante e assim por diante). No pliance as conseqüências devem ser mediadas socialmente, porque apenas uma comunidade social/verbal pode discriminar a presença de uma regra e checar o comportamento que corresponde a ela. No caso do tracking, o falante não monitora o seguimento de regra; o seguimento de regra, neste caso, pode ocorrer independentemente de se a regra está escrita em um livro ou se é apresentada por um falante (Zettle & Hayes, 1982; Hayes e cols., 1989).
Para Hayes e cols. (1989) a forma do comportamento não é suficiente para que seja possível identificar se um dado exemplo de seguimento de regra deve ser classificado como um exemplo de pliance ou de tracking. Segundo estes autores, é preciso identificar que variáveis estão mantendo o comportamento. Por exemplo, se uma mãe diz a seu filho: “Tome o remédio para você melhorar da tosse” e a criança segue esta regra sob controle das conseqüências mediadas pela mãe ou por outras pessoas em contato com a regra (por exemplo, se a criança segue esta regra porque no passado o comportamento de não seguir regras similares foi punido com repreensão), isto é um exemplo de pliance. Por outro lado, se a criança segue esta mesma regra sob controle de conseqüências naturais produzidas pelo próprio seguimento de regra (por exemplo, se a criança segue esta regra porque no passado o comportamento de seguir regras similares fez cessar a tosse), isto é um exemplo de tracking. A distinção feita por Zettle & Hayes (1982) entre pliance e tracking é consistente com uma distinção anterior, feita por Skinner (1980, 1982), entre ordem e conselho. Assim, considerando os dois exemplos apresentados acima, poder-se-ia dizer que no primeiro exemplo a regra estaria funcionando como uma ordem e no segundo, como um conselho.
Os estudos na literatura sobre comportamento governado por regras, de um modo geral, se dividem em duas linhas de pesquisa: A que tem comparado os efeitos de regras (descrições de contingências apresentadas por um falante, como um experimentador, por exemplo) com os efeitos de contingências de reforço programadas no experimento e a que tem avaliado as condições sob as quais auto-regras (descrições de contingências formuladas pelo próprio indivíduo ao longo de sua exposição às contingências de reforço) podem interferir na adaptação do comportamento não verbal humano às contingências de reforço (Chase & Danforth, 1991; Paracampo, 1998). O que se segue é uma descrição resumida dos objetivos investigados, procedimentos utilizados e de alguns resultados encontrados por alguns dos estudos dessas duas linhas de pesquisa.
Regras
De modo geral, os estudos que têm comparado os efeitos de regras com
os efeitos de contingências de reforço programadas em situações experimentais
têm procurado identificar as condições sob as quais o seguimento de regras
é mais ou menos provável de ser mantido (Albuquerque, 1998).
Os procedimentos usados pelos estudos nesta linha de pesquisa, em geral,
se caracterizam por:
1) Comparar, em esquemas de reforçamento: a) o desempenho de participantes que são previamente expostos a regras que correspondem às contingências de reforço programadas no experimento, b) com o desempenho de participantes previamente expostos a regras discrepantes dessas contingências e, c) comparar o desempenho destes dois grupos expostos a regras, com o desempenho de participantes expostos apenas às contingências, isto é, que não foram expostos a regras. Observar-se, então, se o comportamento apresenta a forma descrita na regra ou fica sob controle das conseqüências programadas (ver como exemplos os estudos de Lippman & Meyer; 1967 e Weiner; 1970, descritos a seguir).
2) E apresentar previamente ao participante uma regra correspondente às contingências do esquema em vigor (FR, por exemplo) e depois mudar o esquema (de FR para o esquema de intervalo fixo, por exemplo). O desempenho dos participantes expostos a este procedimento é comparado com o desempenho dos participantes que não são previamente instruídos sobre o esquema em vigor, mas são expostos à mudança nas contingências de reforço programadas no experimento. Observa-se, então, se o desempenho dos participantes destes dois grupos muda, quando essas contingências mudam (ver como exemplo o estudo de LeFrancois, Chase, & Joyce (1988), descrito a seguir)[1].
Estes estudos, em geral, têm mostrado que regras podem exercer forte controle sobre o comportamento humano em esquemas de reforço. Por exemplo, alguns estudos (Ayllon & Azrin, 1964; Baron, Kaufman, & Stauber, 1969; Lippman & Meyer, 1967; Weiner, 1970; Galizio, 1979) mostraram que regras que descrevem acuradamente às contingências (regras correspondentes) podem estabelecer a forma inicial do comportamento facilitando o desenvolvimento e manutenção do controle exercido pelo esquema de reforçamento. Em contraste, estes mesmos estudos, também mostraram que regras que não descrevem acuradamente às contingências (regras discrepantes) interferem com o controle exercido pelas contingências de reforço e o comportamento apresenta mais características do esquema que foi descrito do que do esquema em efeito (Baron e Galizio, 1983).
Por exemplo, Lippman e Meyer (1967) expuseram humanos adultos a um esquema FI 20 s e observaram que os participantes que haviam recebido instruções (correspondentes) de que o reforço estaria disponível de acordo com um esquema de FI, apresentaram baixa taxa de respostas e a curva típica de FI. Já os participantes que receberam instruções (discrepantes) de que o reforço estaria disponível de acordo com um esquema de razão, apresentaram um padrão de taxa alta de respostas; e os participantes que receberam apenas instruções mínimas apresentaram ou um padrão de taxa alta ou um padrão de taxa baixa de respostas. Weiner (1970) encontrou resultados similares quando expôs humanos adultos a um esquema FR 10, no qual podiam receber até 700 reforços, seguido de duas horas de extinção. Os participantes que não foram instruídos sobre o número de reforços que seriam apresentados no experimento, mostraram pouca tendência em parar de responder em extinção. Os participantes que receberam instruções (correspondentes) de que poderiam ganhar até 700 reforços, pararam de responder abruptamente naquele ponto ou emitiram poucas respostas em extinção. Já os participantes que receberam instruções (discrepantes) de que 999 reforços estariam disponíveis, apresentaram taxas altas de respostas durante a extinção.
Esta característica do comportamento governado por regras de interferir com o controle exercido pelas contingências de reforço, tem sido chamada de insensibilidade às contingências. O termo sensibilidade tem sido usado para descrever o comportamento de acordo com as contingências de reforço. Assim, um teste de sensibilidade seria observar se o comportamento muda acompanhando mudanças nas contingências de reforço programadas em situações experimentais (Shimoff e cols., 1981). De acordo com estes autores, a freqüente insensibilidade do seguimento de regras às mudanças nessas contingências seria uma característica definidora do comportamento governado por regras.
Segundo Galizio (1979), insensibilidade ocorre porque regras geram padrões de comportamento que evitam contato com às contingências de reforço. Quando o seguimento de regra mantém contato com a discrepância regra/contingência, isto é, quando o comportamento de seguir regra mantém contato com as conseqüências que contradizem a própria regra, é provável que o seguimento de regra seja abandonado.
Contudo, vários estudos têm mostrado (Albuquerque, 1998; Hayes e cols., 1986; Shimoff e cols., 1981; Paracampo, 1998) que o seguimento de regras pode ser mantido mesmo quando o comportamento de seguir regra mantém contato com essa discrepância. Por exemplo, há evidências mostrando que o seguimento de regra pode ser mantido mesmo quando o comportamento de seguir regra não é reforçado e o comportamento de não segui-la chega a ser reforçado em algumas tentativas (Albuquerque, 1998; Paracampo, 1998 Paracampo & Albuquerque, 1993). Assim, tem sido sugerido que manter contato com a discrepância regra/contingência pode ser uma condição necessária, mas não é suficiente, para que o comportamento de seguir regra deixe de ocorrer (Albuquerque, 1998).
Na literatura tem sido sugerido que outras variáveis também podem interferir na sensibilidade do seguimento de regras às contingências de reforço programadas no experimento. Por exemplo, tem sido sugerido que a manutenção ou não do seguimento de regras pode depender do tipo de conseqüências produzidas pelo comportamento de seguir regras. Por esta proposição, é possível que o comportamento de seguir regra tenha deixado de ocorrer no estudo de Galizio (1979) e tenha sido mantido nos estudos de Hayes e cols (1986) e Shimoff e cols. (1981), porque o seguimento de regra produzia perda de pontos trocáveis por dinheiro no estudo de Galizio e apenas não produzia tantos pontos quanto poderia produzir, caso o comportamento mudasse acompanhando as mudanças nas contingências, nos estudos de Hayes e cols e Shimoff e cols. Assim, o seguimento de regra seria mais provável de ser abandonado quando produzisse conseqüências aversivas do que quando produzisse outros tipos de conseqüências (Chase & Danforth, 1991; LeFrancois e cols., 1988). Também tem sido sugerido que o comportamento de seguir regra pode deixar de ocorrer quando mantém contato prolongado com a discrepância regra/contingência (Bernstein, 1988; Michael & Bernstein, 1991; Hayes e cols., 1986; Paracampo, 1998; Shimoff e cols.,1981).
Além disso, há estudos mostrando que, sob algumas condições, o comportamento estabelecido por regras pode mudar acompanhando as mudanças nas contingências de reforço programadas no experimento (LeFrancois e cols., 1988; Joyce & Chase, 1990). Por exemplo, LeFrancois e cols. (1988), procuraram verificar se variação comportamental gerada por diferentes instruções, antes da introdução de mudanças nas contingências, tornaria o desempenho mais sensível a essas eventuais mudanças. O desempenho de estudantes universitários expostos a diferentes instruções e diferentes esquemas de reforçamento foi comparado com o desempenho de estudantes expostos a instruções para um único esquema de reforçamento. Os resultados mostraram que após uma mudança nas contingências os estudantes previamente expostos a diferentes esquemas e diferentes instruções mudaram as taxas e o padrão de respostas, enquanto que os expostos a um único esquema e uma única instrução continuaram apresentando as mesmas taxas de respostas apresentadas antes das de mudanças nas contingências.
Com base nesses resultados os autores concluíram que o comportamento não verbal humano é mais provável de ser sensível às mudanças nas contingências, quando o participante é previamente exposto a uma história de variação comportamental gerada por diferentes instruções do que quando é previamente exposto a um único esquema e uma única instrução. Estes resultados apoiam a proposição que sugere que, se a variação produzir respostas alternativas que mantenham contato com as contingências de reforço, estas contingências poderiam selecionar estas respostas alternativas e, neste caso, o comportamento seria sensível às contingências (Chase & Danforth, 1991; Joyce & Chase, 1990).
Entretanto, há outros resultados que não confirmam a proposição de Joyce e Chase (1990). Por exemplo, Paracampo (1998) não replicou os resultados encontrados por LeFrancois, quando, antes das mudanças nas contingências de reforço, expôs crianças a uma história de variação comportamental, gerada pela apresentação de diferentes instruções correspondentes às contingências. Neste estudo, o desempenho dos participantes com essa história de variação não mudou acompanhando as mudanças nas contingências.
Diferenças entre os procedimentos usados nos estudos de LeFrancois e cols. (1988) e Paracampo (1998), tais como: o tempo de exposição às mudanças nas contingências; a sinalização ou não das mudanças, o monitoramento ou não das sessões experimentais; podem vir a explicar as diferenças encontradas nos resultados e somente a manipulação dessas variáveis poderá vir a esclarecer o papel da variação comportamental gerada por regras sobre a sensibilidade do comportamento humano as contingências.
A insensibilidade do comportamento governado por regra dificulta a aprendizagem de um novo comportamento quando o indivíduo precisa se adaptar a novas contingências. Neste sentido, a identificação de condições que tornem o responder estabelecido por regra sensível a mudanças em contingências é extremamente relevante, na medida em que grande parte do comportamento humano é controlado por regras, sejam elas apresentadas por terceiros ou formuladas pelo próprio falante.
A principal dificuldade encontrada pelos estudos que têm investigado os efeitos de auto-verbalizações é de origem metodológica. Isto é, a principal dificuldade está em desenvolver delineamentos experimentais que permitam identificar relações funcionais entre o comportamento verbal e o comportamento não verbal, quando falante e ouvinte são a mesma pessoa. Em outras palavras, delineamentos que permitam identificar se auto-verbalizações afetam o comportamento não verbal ou se são meramente respostas colaterais que descrevem o comportamento não verbal, estando ambas sob controle de uma terceira variável.
O delineamento de pesquisa utilizado por Lowe e colaboradores (Bentall, Lowe, & Beasty, 1985; Harzem, Lowe, & Bagshaw, 1978; Lowe, 1979; Lowe, Beasty, & Bentall, 1983) pode ser apontado como um dos primeiros a serem usados na investigação de se auto-verbalizações afetam o comportamento não verbal. Em geral, este delineamento consiste em expor os participantes a um esquema de reforço (a um esquema de intervalo fixo, por exemplo), observar se o padrão de respostas apresentado pelos participantes está ou não de acordo com o esquema e, ao final do experimento, entrevistar os mesmos fazendo-se perguntas acerca da relação comportamento/conseqüência, tais como: “O que você tinha que fazer para ganhar pontos no experimento?” Compara-se, então, o padrão de respostas não verbais apresentadas durante o experimento com as respostas verbais às perguntas da entrevista pós-experimento. Os resultados geralmente indicam uma correlação entre o padrão de respostas não verbais apresentado pelos participantes e suas formulações verbais.
Por exemplo, Lowe (1979) sugeriu que para humanos adultos apresentarem comportamento típico do esquema, seria necessário arranjar condições que interfiram com/ou reduzam a possibilidade de que as verbalizações dos participantes possam afetar o seu comportamento não verbal. Para tanto, expôs dois grupos de humanos adultos a um esquema de FI e comparou o desempenho dos participantes cujas respostas em um painel eram reforçadas (Grupo 1) com o desempenho dos participantes cujas respostas no painel, além de serem reforçadas, iluminavam um relógio digital colocado acima do painel (Grupo 2). Este relógio mostrava o tempo em minutos e segundos desde o último reforçamento. No Grupo 1, foi observada grande variabilidade (intra e entre participantes) nos resultados. Isto é, as taxas de respostas, as pausas pós-reforçamento e os intervalos entre respostas apresentados pelos participantes não mostraram qualquer relação sistemática com os parâmetros do esquema. No Grupo 2 essas mesmas medidas mostraram-se relacionadas aos parâmetros do esquema. De acordo com Lowe, uma razão para a sensibilidade do comportamento aos parâmetros do esquema no Grupo 2, é que a interferência de dicas produzidas pelos próprios participantes, tais como contagem, foi atenuada pela presença do relógio digital. Relatos verbais dos participantes, registrados em entrevistas pós-experimento, forneceram segundo Lowe, evidências adicionais para apoiar esta sugestão. Lowe notou que, no Grupo 1, a variabilidade no desempenho esteve estreitamente correlacionada com a descrição da tarefa experimental formulada pelos participantes. Por exemplo, alguns participantes consideraram que o reforçamento estava baseado no número de respostas emitido. Assim, relataram que à medida que iam emitindo respostas durante os intervalos, iam contando as mesmas. Outros, adotaram uma formulação baseada na passagem do tempo e contavam o intervalo antes de responder no painel. Já os participantes do Grupo 2, relataram que estavam cientes das contingências temporais e que confiavam mais no relógio digital do que no seu comportamento de contar.
Em outros estudos (Bentall e cols., 1985; Lowe e cols., 1983), conduzidos posteriormente com o objetivo de investigar se diferenças entre os desempenhos de humanos e não humanos em esquemas de reforçamento seria devida a interferência de regras auto-geradas, este grupo de pesquisadores comparou o desempenho de crianças pré-verbais com o de crianças verbais de diferentes idades, expostas a esquemas de intervalo fixo. Observaram que o padrão de respostas das crianças pré-verbais assemelhou-se ao de não humanos enquanto que o padrão de respostas das crianças mais velhas assemelhou-se ao de humanos adultos. Com base nestes resultados e nos relatos verbais das crianças mais velhas que corresponderam aos seus desempenhos não verbais, os autores concluíram que as descrições verbais da tarefa formuladas pelas crianças mais velhas funcionaram como regras que interferiram com o controle pelas contingências.
As proposições de Lowe e colaboradores têm sido questionadas, principalmente porque têm sido apoiadas em relatos verbais pós-experimento. Alguns autores (Perone e cols., 1988; Shimoff, 1984) têm argumentado que comportamento verbal durante uma entrevista pós-experimento pode estar relacionado a variáveis da própria condição de entrevista e não a qualquer comportamento durante o experimento. Embora as descrições, pós-experimento, das contingências experimentais possam corresponder às verbalizações que ocorreram durante o experimento, é também possível que os participantes nunca tenham descrito tais contingências até terem sido solicitados a fazê-lo.
De acordo com Chase e Danforth (1991) e Perone e cols. (1988), os relatos verbais registrados nestas entrevistas, não podem ser usados como evidência do controle do desempenho por auto-regras, na medida em que o comportamento verbal dos participantes é uma entre muitas variáveis que podem estar correlacionadas com os diferentes desempenhos nos esquemas. Ou seja, o procedimento utilizado por Lowe e colaboradores não assegura se as descrições verbais das contingências afetaram o desempenho no esquema ou se a exposição as contingências afetou as formulações verbais dos participantes.
Nesta mesma linha de investigação, mas analisando as interações entre comportamento verbal e não verbal durante as sessões experimentais, Catania, Matthews, e Shimoff (1982), propuseram outro procedimento para avaliar se regras formuladas pelos próprios participantes interferem com a adaptação do comportamento não verbal às contingências. Este procedimento consiste em modelar descrições correspondentes e discrepantes das contingências de reforço programadas para o comportamento não verbal e observar se o comportamento não verbal muda de acordo com a mudança do comportamento verbal modelado ou se ambos ocorrem independentemente. Os resultados mostraram que o comportamento não verbal (pressionar botões de acordo com um esquema múltiplo) mudou de acordo com a mudança do comportamento verbal (suposições sobre às contingências reforçadas diferencialmente), independente das contingências de reforço programadas para o comportamento não verbal. Ou seja, o comportamento não verbal ficou sob controle do comportamento verbal modelado, independentemente de se o comportamento não verbal estava ou não produzindo conseqüências reforçadoras.
Este procedimento tem sido destacado, na literatura, como um procedimento que permitiu avanços metodológicos na investigação dos efeitos de auto-verbalizações sobre o comportamento não-verbal, na medida em que o comportamento verbal dos participante foi registrado e manipulado ao longo do experimento e foi colocado sob controle de contingências de reforço. Isto permitiu avaliar ponto a ponto a correspondência entre comportamento verbal e não-verbal e a direcionalidade das relações entre eles (Chase & Danforth, 1991 e Perone e cols.,1988).
Outros estudos realizados posteriormente (Pouthas, Droit, Jacquet, & Wearden, 1990; Rosenfarb e cols., 1992), também registraram o comportamento verbal dos participantes ao longo do experimento. Nestes estudos, as descrições do comportamento não verbal que produzia reforço, foram solicitadas através de perguntas. No estudo de Pouthas e cols. (1990), crianças de diferentes idades foram expostas a uma tarefa de diferenciação temporal e foi observado se a criança descrevia o comportamento não verbal que produzia reforço antes ou depois desse comportamento não verbal ficar sob controle das contingências de reforço programadas. Pouthas e cols. observaram que apenas as crianças mais velhas (de 11 anos) descreveram acuradamente o comportamento não verbal que produzia reforço e fizeram isso, antes mesmo desse comportamento não verbal se mostrar sob controle das contingências de reforço. Já no estudo de Rosenfarb e cols. (1992), estudantes universitários foram expostos a um esquema múltiplo e comparou-se o comportamento não verbal dos participantes solicitados a verbalizar com o dos participantes que não foram solicitados a verbalizar o comportamento não verbal que produzia reforço. Rosenfarb e cols. observaram que a maioria dos participantes que foram solicitados a verbalizar apresentou um comportamento não verbal, correspondente ao verbal, e sob controle das contingências, enquanto que a maioria dos participantes que não foram solicitados a verbalizar apresentou o comportamento não verbal discrepante do exigido pelas contingências. Com base em seus respectivos resultados, Pouthas e cols. (1990) e Rosenfarb e cols. (1992) sugeriram que as auto-verbalizações dos participantes controlaram o comportamento não verbal. Nestes estudos, a correspondência entre o comportamento verbal e o não verbal foi observada apenas quando o comportamento não verbal era reforçado.
Entretanto, tem sido sugerido que observar a correspondência entre o comportamento verbal e o não verbal, apenas quando o comportamento não verbal é reforçado, não é suficiente para se afirmar que o comportamento verbal determinou o não verbal. Para tanto, é necessário que as condições experimentais sejam manipuladas para que se possa avaliar se essa correspondência se mantém mesmo na ausência de reforçamento. Ou seja, é necessário pelo menos observar a manutenção tanto do comportamento não verbal quanto do comportamento verbal que descreve o não verval, na ausência de reforçamento, após a mudança nas contingências. E, mesmo assim, ainda seria necessário avaliar a possibilidade desses comportamentos estarem sob controle de uma terceira variável. Deste modo, poder-se-ia avaliar se realmente o comportamento verbal exerceu controle sobre o não verbal ou se tanto o comportamento verbal quanto o não verbal estavam sob controle das contingências de reforço (Chase & Danforth, 1991; Paracampo, 1998).
Referências
Albuquerque, L. C. (1991). Alguns Efeitos de regras no Controle do Comportamento Humano. Dissertação de mestrado não-publicada, Colegiado de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Pará. Belém, PA.
Albuquerque, L. C. (1998). Efeitos de Histórias Experimentais sobre o Seguimento Subseqüente de Regras. Tese de doutorado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.
Baron, A. & Galizio, M. (1983). Instructional control of human operant behavior. The Psychological Record, 33, 495-520.
Baron, A., Kaufman, R. & Stauber. K. A. (1969). Effects of instructions and reinforcement-feedback on human operant behavior maintained by fixed-interval reinforcement. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 12, 701-712.
Bentall, R. P., & Lowe, C. F. (1987). The role of verbal behavior in human learning III. Instructional effects on children. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 47, 177-190.
Bentall, R. P., Lowe, C.F., & Beasty, A., (1985). The role of verbal behavior in human learning II. Developmental differences. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 43, 165-181.
Bernstein, D. J. (1988). Laboratory role and research practices in the experimental analysis of human behavior: Designing session logistics-how long, how often, how many? The Behavior Analyst, 11, 51-58.
Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, linguagem e cognição. Porto Alegre, Artmed.
Catania, A. C., Matthews, A., & Shimoff, E. (1982). Instructed versus shaped human verbal behavior: Interactions with nonverbal responding. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 38, 233-248.
Catania, A. C., Matthews, A. & Shimoff, E. (1990). Properties of rule-governed behaviour and their implications. Em D. E. Blackman & H. Lejeune (Orgs.), Behaviour analysis in theory and practice: Contributions and controversies (pp.215-230). Brighton, UK: Lawrence Erlbaum.
Catania, A. C., Shimoff, E. & Matthews, A. (1989). An experimental analysis of rule-governed behavior. Em S. C. Hayes (Org.), Rule-governed behavior: Cognition, contingencies, and instructional control (pp.119-150). New York: Plenum.
Chase, P. N. & Danforth, J. S. (1991). The role of rules in concept learning. Em L. J. Hayes & P. N. Chase (Orgs.), Dialogues on verbal behavior (pp.205-225). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Galizio, M. (1979). Contingency-shaped and rule-governed behavior: Instructional control of human loss avoidance. Journal of Experimental Analysis of Behavior, 31, 53-70.
Harzem, P., Lowe, C. F., & Bagshaw, M. (1978). Verbal control in human operant behavior. Psychological Record, 28, 405-423.
Hayes, S. C., Brownstein, A. J., Zettle, R. D., Rosenfarb, I. & Korn, Z. (1986). Rule governed behavior and sensitivity to changing consequences of responding. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 45, 237-256.
Hayes, S. C., & Hayes, L. J. (1989). The Verbal Action of the Listener as a Basis for Rule-Governance. Em S. C. Hayes (Org.), Rule governed behavior: Cognition, contingencies, and intructional control (pp.153-190). New York: Plenum.
Hayes, S. C., & Wilson, K. G. (1993). Some applied implications of a contemporary behavior-analytic account of verbal events. The Behavior Analyst, 16, 283-301.
Hayes, S. C., Zettle, R. & Rosenfarb. I. (1989). Rule-following. Em S. C. Hayes (Org.), Rule governed behavior: Cognition, contingencies, and intructional control (pp.191-220). New York: Plenum.
Joyce, J. H. & Chase, P. N. (1990). Effects of response variability on the sensivity of rule-governed behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 54, 251-262.
LeFrancois, J. R., Chase, P. N. & Joyce, J. (1988). The effects of variety of instructions on human fixed-interval performance. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 49, 383-393.
Lippman, L. G., & Meyer, M. E. (1967). Fixed interval performance as related instructions and to subjects' verbalizations of the contingency. Psychonomic Science, 8, 135-136.
Lowe, C. F. (1979). Determinants of human operant behaviour. Em M. D. Zeiler & P. Harzem (Eds.), Advances in analysis of behaviour: Vol. 1 Reinforcement and the organization of behaviour (pp.159-192). Chichester, England: Wiley.
Michael, R. L. & Bernstein, D. J. (1991). Transient effects of acquisition history on generalization in a matching-to-sample task. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56, 155-166.
Paracampo, C. C. P. (1991). Alguns efeitos de estímulos antecedentes verbais e reforçamento programado no seguimento de regra. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 7, 149-161.
Paracampo, C. C. P. (1998). Efeito de Mudanças nas Contingências Programadas Sobre o Comportamento Verbal e Não Verbal de Crianças. Tese de doutorado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.
Paracampo, C. C. P., & Albuquerque, L. C. (1993). Efeitos das conseqüências programadas para o não-seguimento de regra sobre o comportamento de seguir regras. Resumos de Comunicações Científicas da Sociedade Brasileira de Psicologia, p. 280.
Perone, M., Galizio, M., & Baron, A. (1988). The relevance of animal-based principles in the laboratory study of human operant conditioning. Em G. Davey C. & Cullen (Orgs.), Human operant conditioning and behavior modification (pp.59-85). New York: Wiley & Sons.
Parrott, L. J. (1987). Rule-governed behavior. Na implicit analysis of reference. Em S. Modgil & C. Modgil (Eds.), B. F. Skinner: Consensus and Controversy (pp. 265-276). Sussex, England: Falmer Press.
Pouthas, V., Droit, S., Jacquet, Y., & Wearden, J. H. (1990). Temporal diferentiation of response duration in children of diferent ages: developmental changes in relations between verbal and nonverbal behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 53, 21-31.
Rosenfarb, I. S., Newland, M. C., Brannon, S. E., & Howey, D. S. (1992). Effects of self-generated rules on the development of schedule-controlled behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 58, 107-121.
Shimoff, E. (1984). Post-session questionnaires. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin, 2, 1.
Shimoff, E., Catania, A. C. & Matthews B. A. (1981). Uninstructed human responding: Sensitivity of low-rate performance to schedule contingencies. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 36, 207-220.
Skinner, B. F. (1980). Contingências de reforço: Uma análise teórica. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural. (Original publicado em 1969).
Skinner, B. F. (1982). Sobre o behaviorismo. São Paulo: Cultrix. (Original publicado em 1974).
Vaughan, M. E. (1989). Rule-governed behavior in behavior analysis: A theoretical and experimental history. Em S. C. Hayes (Ed.) Rule-governed behavior: Cognition, contingencies, and instructional control (pp.97-118). New York: Plenum.
Weiner, H. (1970). Instructional control of human operant responding during extinction following fixed-ratio conditioning. Journal of the Analysis Experimental of Behavior, 13, 391-394.
Zettle, R. D., & Hayes, S. C. (1982). Rule-governed behavior : A potential theoretical framework for cognitive-behavior therapy. Em P. C. Kendall (Ed.), Advances in cognitive-behavioral research and therapy (pp. 73-118). New York: Academic Press.
[1] Alguns estudos vêm substituindo o uso de esquemas de reforçamento como linha de base para investigar os efeitos de regras pelo uso do procedimento de escolha de acordo com o modelo.
"Fazer, dizer e pensar: comportamentos operantes inter-relacionados."
Autor(a): Lorismario E. Simonassi [1] - Universidade Católica de Goiás
Há muitos anos que a literatura operante tem apontado que o fazer, de uma forma geral , engloba uma grande quantidade de comportamentos que podem ser controlados pelas conseqüências que eles produzem. O mesmo tipo de afirmativa pode ser feita em relação ao comportamento de dizer. Tanto em um caso como em outro, centenas de evidências empíricas estão a disposição nos dois principais periódicos que tratam da literatura operante, ou seja: a- The Journal of the Experimental Analysis of Behavior, e b- The Journal of Applied Behavior Analysis.
a- O fazer
A caracterização de um comportamento controlado pelas conseqüências envolveria outras classes de comportamentos além do fazer e desta forma precisamos delimitar melhor o que estamos denominando de fazer. Neste tipo de comportamento as conseqüências são produzidas diretamente sobre quem se comporta, isto é, a ação do organismo é direta sobre o meio ambiente. Não se pode esquecer que as pessoas fazem parte do meio ambiente e que consequentemente um comportamento de fazer pode ser , por exemplo, o resultado do seguimento de instruções dadas por uma outra pessoa . Se alguém diz a você, “Ligue a luz”, e você segue as instruções, sua ação de ligar a luz é um comportamento de fazer. O seu comportamento de ligar a luz é direto sobre o meio físico, sem mediação de ninguém.
Neste caso, ligar a luz é um comportamento social de fazer como muitos outros comportamentos sociais. No exemplo dado, as palavras levam o ouvinte a fazer algo. De acordo com as variáveis controladoras, os comportamentos de fazer de maior interesse são chamados de operantes. Nos restringiremos neste texto ao fazer operante.
A aceitação do comportamento de fazer como operante ocorreu de forma menos dramática, até mesmo por aqueles que fazem críticas mal fundamentadas e nitidamente seletivas ( Kohn, 1998) e que são evidências favoráveis às suas concepções e contrárias ao operante. Mesmo nestes casos ( Kohn, 1998), não se contestam as modificações produzidas pelas conseqüências, mas sim os efeitos a longo prazo supostamente atribuídos às mesmas. É bom salientar que o livro abordado contém tópicos que enfatizam o fazer nas organizações de trabalho ( empresas), embora em muitos momentos vai além. Há por exemplo um capítulo falacioso ( Cap. 8) dedicado ao fazer na sala de aula. É falacioso, pois nesse capítulo, de cerca de 600 citações bibliográficas utilizadas no capítulo, há aproximadamente apenas oito referências a estudos empíricos do Journal of Applied Behavior Analysis. Tais referências selecionam o que é favorável às hipóteses do autor, contrárias ao uso de “recompensas” na sala de aula, por gerarem algum tipo de efeito colateral não controlado pelos experimentadores. É bom lembrar que o periódico citado é publicado trimestralmente desde o ano de 1968 tendo publicado, aproximadamente 1200 artigos, dos quais, mais de 90 por cento empíricos. No mínimo a seleção de apenas oito artigos dentre os aproximadamente 1200 é de causar estranheza. Outros autores, menos tendenciosos, embora tradicionalmente ligados a outras filosofias que não o behaviorismo, reconhecem o fazer como um operante ( Davidoff, 2001), dedicando-lhe um capítulo inteiro, além de mencioná-lo em vários outros capítulos.
Para as pessoas que tem interesse em procedimentos que resultaram em modificações relevantes sobre o fazer, seria interessante que consultassem os trabalhos feitos e acompanhados durante um período de 26 anos do Projeto Juniper Gardens Housing. O projeto continua a ser executado e pode fornecer um bom exemplo de comportamentos de fazer, analisados de maneira operante, com dezenas de tipos de comportamentos, embora o projeto não seja apenas sobre comportamentos de fazer (Greenwood,Carta,Hart,Kamps,Terry,Arreaga-Mayer, Atwater, Walker, Risley e Delquadri,1992)
b- O dizer
Em relação ao dizer, a aceitação desses comportamentos como operantes foi muito mais difícil e há mesmo ainda muita controvérsia em aceitar tais comportamentos como controlados pelas conseqüências, a despeito do crescente número de evidências recentes demonstrando empiricamente o controle do dizer ou falar pela audiência, embora Skinner (1978) tenha chamado a atenção do controle que o ouvinte exerce sobre o falante desde 1957, ao analisar a relação entre falante e ouvinte e que foi por ele denominada de episódio verbal. No entanto, toda a análise skinneriana foi teórica. O dizer faz parte do que foi classificado por Skinner (1978) como comportamento verbal. A definição de comportamento verbal é a seguinte: “ É o comportamento cujo reforço é mediado por outro organismo” ( Skinner, 1978). No comportamento de dizer, a ação do falante não é direta sobre o meio ambiente. Desta forma, o dizer, como comportamento verbal só é eficaz pela mediação de outro organismo. No exemplo citado de “ligar a luz”, a produção da luminosidade ou a remoção da escuridão foi mediada pela pessoa que ligou a luz. Neste caso, o reforçador para quem deu as instruções foi inter“mediado” por um outro organismo. Sem dúvida, o dizer como um tipo de comportamento verbal é multi-causado. Isso permite afirmar que o dizer implica em inúmeros efeitos combinados de ecoicos, tatos, mandos, autoclíticos etc. conforme sugerido por Skinner ( l978), Catania (1999) entre outros.
Talvez a referência empírica como pesquisa básica mais antiga do dizer como um operante tenha sido feita por Greenspoon (1955). Nos seus estudos, classes de palavras específicas ( por exemplo, palavras no plural) eram seguidas por sons do tipo HUM! HUM! , aumentando a freqüência de ocorrência em relação a outras classes de palavras. Recentemente há uma maior preocupação tanto teórica Skinner ( 1989; 1991), Hayes e Hayes (1989),Palmer (1998), Baum (1999), como empírica (Spradlin, 1985), (Catania, 1999)[2] do papel do ouvinte ou audiência na aquisição e manutenção do comportamento de dizer.
Atualmente a literatura psicológica de orientação behaviorista está repleta de estudos que não deixam dúvidas do caráter operante do dizer, isto é, que o dizer pode ser modificado pelas conseqüências, tanto durante a fase de aquisição quanto a fase de manutenção.
A despeito das inúmeras evidências do dizer ser analisado com base nas conseqüências que ele produz, ainda existem livros textos de outras orientações filosóficas, que analisam comportamentos tais como consciência, resolução de problemas, inteligência e mesmo linguagem, sem fazer uma única referência ao comportamento/condicionamento operante, preferindo analisar tais áreas como eventos definidos como mentais, de tal forma que a mente seja considerada em grande parte como um evento de natureza fisiológica, ou seja , localizada no cérebro (Stenberg, 2.000)
c- O pensar
Na tentativa da compreensão do comportamento humano, talvez nada nos chame mais atenção do que aqueles comportamentos que nós supostamente inferimos que existem no repertório das outras pessoas, mas que não temos acesso. Entre estes comportamentos estão o que “sentimos”, “percebemos” e ‘pensamos”, e muitos outros. Vou concentrar minha atenção no pensar, adotando uma posição behaviorista. Iniciarei com algumas citações feitas por Skinner sobre o pensamento.
a- “Pensar é fazer algo que torna possível outro comportamento. Um problema é a situação que não evoca uma resposta efetiva; nós resolvemos mudando a situação até que a resposta ocorra.” ( Skinner, 1991).
b-“ Assistindo a um jogo de xadrez, podemos conjecturar acerca “do que estará pensando um jogador” quando faz um lance.”
“ O comportamento encoberto é quase sempre adquirido de forma manifesta e ninguém jamais demonstrou que a forma encoberta nada proporciona que esteja fora do alcance da manifesta”. ( Skinner, 1982).
c-“ O comportamento verbal, entretanto, pode ocorrer ao nível encoberto por não requerer a presença de um ambiente físico particular para a sua execução. Além disso, pode continuar eficaz ao nível encoberto porque o próprio orador também é ouvinte, e seu comportamento verbal pode ter conseqüências privadas”.
“ Pode-se distinguir um evento privado por sua acessibilidade limitada mas não, pelo que sabemos, por qualquer estrutura ou natureza especiais”. ( Skinner, 1967).
Embora sentenças retiradas do seu contexto particular possam sempre servir aos propósitos de quem as retira, tentaremos ser fiéis aos analistas dos comportamentos e com estas poucas sentenças expor alguns pontos que parecem relevantes para uma ciência do comportamento humano. O primeiro ponto é que o pensar parece estar correlacionado ao fazer, isto é, mesmo durante a aquisição de repertórios verbais, o fazer e o pensar estão de alguma forma relacionados. Observações feitas por de Viliers & de Villiers ( citado em Davidoff, 2001) podem ilustrar o ponto de vista relacional entre fazer , falar e pensar.
“ O balbucio surge no momento em que o bebê está começando a usar a voz para transmitir seus desejos. As primeiras tentativas de comunicar desejos geralmente envolvem olhar para o objeto desejado e chorar ou balbuciar a talvez gesticular ( acenando, esticando o braço e apontando).”[3]
Não
é pouco comum encontrarmos na literatura de psicologia do desenvolvimento,
que tanto crianças como adultos interagem com relativa freqüência com os
objetos do meio ambiente antes de aprender a tateá-los. (Staats
e Staats, 1973; Carrol e Hesse,
1987; Burns e Staats, 1991, Mills,1974; Bijou e Baer, 1962).
Estudos baseados em outras epistemologias, tal como o construtivismo, concordam
com tal afirmativa.
De acordo com Baldwin (1973), Lewis e Wolkmar (1993) que apontam os Estágios
1 - de 0 a 1 mês de idade-
e Estágio 2 - de 1 a 4 meses de idade-
como pré-correntes do comportamento que dão origem à fala, o fazer
antecede, de forma sutil às vocalizações, chamadas pelos behavioristas radicais
de operantes.
Embora os estudos citados sejam grandemente baseados em observações, estes estudos devem ser olhados com cautela, pois não são estudos que se utilizam de manipulações das variáveis independentes, das quais os resultados são inferidos. Dito de outra forma, não são estudos experimentais, embora sejam estudos empíricos. Mesmo o tatear sobre eventos privados depende grandemente do contato, isto é, do “sentir”, “perceber”, “olhar” e até o “ver na ausência da coisa vista”, Kritch e Bostow (1993 ) etc... que o aprendiz tem com o objeto ( Catania, 1999). Também tem sido demonstrado que mesmo o tatear de propriedades abstratas de certos estímulos somente ocorreram após as crianças manipularem apropriadamente os objetos do meio ambiente ( Twyman,1996). Uma ressalva a este estudo é que as crianças utilizadas para a pesquisa eram crianças com deficiências de aprendizagem, porém, já com algum repertório verbal.
Portanto, as evidências indicam que o fazer está no mínimo correlacionado com o dizer. Algumas questões testáveis passariam a ser formuladas da seguintes forma: 1- Quais variáveis seriam as responsáveis pela reorganização da magnitude do comportamento de dizer e que o controlariam a nível privado? 2- De que forma o dizer poderia se tornar em um comportamento encoberto?
Estas questões nos remeteriam a um segundo ponto importante, e que poderia começar a ser respondido da seguinte forma:
1- A aquisição dos comportamentos encobertos ( pensar ) é feita de forma manifesta ( sentença b, citada no início desse tópico, feita por Skinner ( 1982).
2- A ocorrência de comportamentos encobertos (pensar) pode ser devida à falta de um ambiente físico específico para a sua emissão ( sentença c, citada no início deste tópico, feita por Skinner ( 1967).
3- A ocorrência de encobertos ( pensar) pode ser porquê ouvinte e falante, no episódio verbal adulto, são a mesma pessoa e compartilham das mesmas conseqüências ( sentença c, citada no início desse tópico, feita por Skinner ( 1967). Isso pode ser observado, como no caso de aquisição de mandos, ou seja, como as instruções passam a controlar os comportamentos dos ouvintes, e o mandar a si mesmo resulta em reforçadores para o falante ( Cerutti, 1989).
4- Comportamentos verbais encobertos (pensar) podem ocorrer porque não tem ação efetiva sobre o meio ambiente como no caso em que ficamos caladas pois ninguém, além de nós mesmos, nos dará ouvidos ( sentença a, citada no início desse tópico, feita por Skinner (1991).
5- Comportamentos verbais encobertos ( pensar) podem ser sistematicamente punidos pela audiência, como no caso em que, em certos tipos de terapia - como nas técnicas de Parada de Pensamento - as pessoas são treinadas a pensarem sobre certas propriedades dos estímulos e então punidas ( cf. Wolpe, 1976), ou ainda, os ouvintes não apresentarem repertório verbal contínuo como o do falante e portanto, os verbais públicos deixam de ocorrer (Spradlin, 1985). É possível então que ocorram encobertamente.
6- Comportamentos verbais encobertos (pensar) podem ocorrer para nos livrar de situações embaraçosas ( como quando deixamos de falar, mas não de pensar ), isto é, somos reforçados negativamente por evitar críticas.
A lista de 1 a 6 poderia ser consideravelmente aumentada. Alguns críticos do Behaviorismo Radical ( cf. Oliveira-Castro, 2000) argumentariam que tal lista de eventos privados, ou outra lista qualquer feita com base nos mesmos princípios está baseada na forma positiva de formulação conceitual ou seja, como se tais eventos estivessem ocorrendo, quando na verdade, uma interpretação negativa ou função negativa, que estabelece o local onde tais eventos , no caso os eventos privados, não estão ocorrendo, seria mais apropriada evitando inúmeras dificuldades teóricas e seria empiricamente parcimoniosa. Não vejo qualquer problema, em uma formulação conceitual positiva, desde que as propostas empíricas para a resolução dos problemas propostos possam ser demonstráveis. Dessa forma não teríamos problemas de falta de critérios para inferir os eventos privados e muito menos adesão à teorias aditivas para resolver a questão dos comportamentos encobertos de forma genérica. Sendo assim, todas as proposições ou seja a lista de 1 a 6 devem ser empiricamente testadas. Para a solução empírica de um problema podemos iniciar conceituando, para delimitação, o que desejamos estudar. Dessa forma, se a questão dos comportamentos encobertos, e nesse caso, mais especificamente o pensar, pode começar com o estudo das formas de acessibilidade e não de buscas de naturezas especiais diferentes daquelas ao se estudarem os comportamentos manifestos conforme apontaram Skinner (1967), acima apontado na sentença c desse tópico, Matos (1997) e Tourinho (1997).
Algumas perguntas que requerem respostas muito práticas são as seguintes: a- Quais tipos de exposição a problemas poderiam gerar regras que permanecessem privadas? b- Como fazer para que tais regras privadas permanecessem como comportamentos encobertos ou pudessem se tornar públicas?
Simonassi, Tourinho e Vasconcelos Silva (2001) conduziram um experimento que proporcionam um exemplo empírico sobre privacidade e acessibilidade do comportamento de formular regras, especificamente um tipo de pensar, que é a formulação de regras privadas. No experimento conduzido, participantes humanos adultos tinham que solucionar um problema apresentado a eles em uma tela sensível ao toque de um micro computador. Em um dos grupos, a cada tentativa de solução, os participantes tocavam sobre as palavras SIM ou NÃO na tela, indicando se eles sabiam como solucionar o respectivo problema. Após um determinado número consecutivos de respostas dadas à palavra SIM, o relato que os participantes faziam podia ser comparado ao seu fazer relativo à solução do problema, após um determinado número de tentativas em que se inferia por quantas tentativas o comportamento verbal , que era uma regra formulada , permanecia encoberto, isto é, privado. A inferência foi baseada em um grupo de controle onde foram dadas oportunidades de relato a cada tentativa, e portanto com possibilidade de comparações ponto a ponto entre o fazer e o dizer manifesto. Os resultados indicaram que as regras permaneceram privadas por um determinado número X de tentativas, para cada participante. Um dos problemas com o experimento relatado é que as comparações feitas foram entre participantes de grupos, isto é, baseadas em participantes cujo delineamento experimental não foi de sujeito de caso único, medido n vezes. Tal procedimento poderia gerar críticas relativas às histórias prévias de cada participante. Para solucionar este problema, Simonassi , Cardoso de Menezes, Elias e Amorosino (2000) conduziram um outro experimento, também com adultos humanos e com o mesmo tipo de problema a ser solucionado. No novo procedimento, após responderem com um determinado número de respostas consecutivas ao SIM aposto na tela sensível, os participantes entravam em outra condição em que havia uma lista de conjunto de símbolos arbitrariamente dispostos na tela de tal forma que um dos conjuntos de símbolos era equivalente à formulação da regra. O critério para considerar que a regra poderia ser emitida era o acerto por quatro tentativas consecutivas do conjunto arbitrário de símbolos. Quando isso ocorria, pedia-se o relato dos participantes por escrito. A inferência de regras privadas foi feita a partir do critério de dez respostas consecutivas ao SIM e mais os acertos das listas de símbolos arbitrários. Desta forma, garantiu-se um delineamento em que foi possível comparar o participante com ele mesmo, em momentos diferentes, evitando-se as críticas feitas com base em participantes por grupos e histórias prévias diferentes. Os resultados confirmaram os estudos anteriormente feitos por Simonassi, Tourinho e Vasconcelos Silva ( 2001).
Não parece haver dúvidas, que os comportamentos de fazer, dizer e pensar são controlados pelas conseqüências. Mas um operante tem como um de seus instrumentos analíticos, a contingência de três termos, composta pelos “ antecedentes, respostas e conseqüentes” . Toda a análise precedente foi feita relacionando o fazer, o dizer e o pensar com os conseqüentes. A literatura operante está repleta de estudos e experimentos que evidenciam o controle feito pelos estímulos antecedentes. Para apenas ilustrar, o leitor interessado poderia consultar quatro livros textos básicos usados pelos analistas do comportamento. São eles : 1- Operant Behavior: Areas of Research and Application , organizado por Honig ( 1966) , 2- Handbook of Operant Behavior, organizado por Honig e Staddon ( 1977) , 3- The Experimental Analysis of Behavior: A biological perspective, escrito por Fantino e Logan (1979), e 4- Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição, escrito por Catania (1999). No entanto, para que a questão dos antecedentes não passe em branco, vamos ilustrar o controle feito pelos estímulos antecedentes comumente feito com alunos de graduação em sala de aula nos cursos introdutórios de Psicologia. Porém, antes de ilustrar o que pretendemos, podemos recordar que um dos motivos pelos quais o pensar foi por muito tempo dito ser “um eu iniciador”, reside no fato de que os cognitivistas partiram do pressuposto de que a mente era o agente iniciador dos comportamentos observáveis ( confira especialmente o Capítulo 3 de Skinner, 1991, intitulado “O Eu Iniciador”). Voltemos agora à ilustração do controle pelos estímulos do comportamento de pensar. Leia cada uma das afirmativas abaixo e após a leitura da última delas, espere passar 30 segundos e então escreva em uma folha de papel, o que lhe ocorrer, correlacionado às afirmativas que você acabou de ler.
1- Apresenta forma arredondada.
2- É encontrado nos supermercados.
3- Fica localizado na seção de alimentos.
4- Sua origem mais comum é a de granjas.
5- É um alimento consumido de forma cozida ou frita.
Agora espere passar os trinta segundos que lhe pedi, e escreva no espaço em branco pontilhado a seguir (................) o nome do objeto que as afirmativas podem ter levado você a pensar. Acho que, neste momento ( eu estou escrevendo este artigo durante o mês de janeiro de 2.001 muito tempo antes de você escrever a palavra que você escreveu), posso predizer o que você escreveu e o que você pensou a partir das afirmativas 4 e 5 e durante os trinta segundos que você ficou esperando. Não creio que você tenha ficado espantado se eu disser para você que a palavra ovo foi escrita no espaço acima. Também não creio que você fique espantado se eu disser que previ o seu comportamento de pensar, tenha você pensado na palavra ovo ou no objeto ovo.
O ponto importante do parágrafo acima é que seu comportamento de pensar pode ser previsível, como muitos outros comportamentos manifestos. E previsão é um dos objetivos da ciência. A previsão feita do pensar na palavra ovo ou no objeto ovo, foi baseada no controle exercido pelos estímulos verbais textuais desse texto e principalmente pelas cinco afirmativas feitas sobre propriedades do objeto em questão. Tais propriedades estimuladoras ( texto e afirmativas), são estímulos antecedentes que controlaram o seu pensar ( uma resposta ou comportamento). Não é difícil imaginar possíveis conseqüências, pois há inúmeras, no episódio relatado. Uma delas seria a palavra ovo escrita no espaço pontilhado. Dessa forma fica completa a contingência de três termos relativa ao pensar. Assim sendo é possível analisar com a contingência de três termos, que é um instrumento conceitual-analítico, um dos tipos mais complexos do comportamento humano, que é o pensar.
d- Fazer, dizer e pensar: operantes inter-relacionados.
As relações entre os comportamentos de fazer e dizer e dizer e fazer já tem sido há muito estudadas e uma grande quantidade de variáveis tem sido apontadas como responsáveis pelas ocorrências destas duas classes de respostas. Entre as várias relações encontradas podemos citar algumas:
a- Não existe correspondencia direta entre fazer e dizer e dizer e fazer a não ser em condições específicas ( Paniagua e Baer, 1982 ); (Barbosa Amorim, 2001).
b- Não há correspondencia entre respostas verbais e não verbais, isto é, a perda de reforçadores não permite que tais relações se estabeleçam como relações decorrentes do ensino de uma classe para a outra ( Ribeiro, 1989).
c- Resultados de controle de respostas verbais sobre respostas não verbais são específicos das contingências diretamente programadas. Assim sendo é possível instalar coerência-incoerência entre as duas classes de respostas , isto é, fazer e dizer, reforçando-se diretamente tais relações de coerência ou incoerência Torgrud e Holborn(1990) ; Barbosa Amorim ( Experimento 3) (2001); Paniagua e Baer (1982).
d- Foi possível estabelecer correspondencia entre dizer ( uso de regras) e fazer reforçando-se diretamente a relação entre regras ( mandos) e o fazer correspondente ao mando (Deacon e Konarski, 1987). Regras (mandos) foram estabelecidos como estímulos discriminativos controlando o fazer, de tal forma que as relações entre fazer e dizer foram arbitrariamente estabelecidas, ou seja, instruções ( dizer) controlavam taxas de respostas, dependentemente de como as velocidades de respostas eram instruidas e reforçadas – instruções para velocidades lentas controlavam o fazer rápido e vice versa, ao sabor das relações resposta-reforçador que foram programadas (Okouchi, 1999).
e- As classe de respostas analisadas nos estudos de correspondencia ( fazer e dizer- dizer e fazer) são sensíveis às consequências diretas a elas programadas ( Critchfield, 1996; Sanabio, 2.000).
Os resultados de a até e acima indicados mostram que os estudos de correspondencia entre o fazer/dizer e dizer/fazer devem ser analisados como áreas de estudo que permitem integrações de classes de estímulos e classes de respostas. Há, pelo menos dois estudos, feitos nos nossos laboratórios, estudos estes empíricos, que suportam que o dizer pode ser estudado como comportamento verbal privado, e que sua privacidade pode continuar ou se tornar pública, dependendo da forma como as contingências são arranjadas ( Simonassi, Tourinho e Vasconcelos Silva, 2001; Simonassi, Cardoso de Menezes, Elias e Amorosino, 2.000). Assim sendo, pode ser que estes comportamentos privados, possam ser conceituados como uma das possíveis formas do que é chamado de pensamento e desta forma serem empiricamente estudados. A relevância dos estudos de eventos privados pelos analistas do comportamento foi sistematicamente enfatizada por Skinner em quase todos os seus escritos e mais recentemente foram realçadas pelas revisões teóricas e conceituais de Anderson, Hawkins, Freeman e Scotti (2.000), mostrando a importancia da comprensão de tais comportamentos para que se possa fazer uma análise completa do comportamento humano, principalmente relacionado a análise experimental aplicada, no que diz respeito a aplicação na clínica ( Moore,2.000 ; Wilson e Hayes, 2000).
O presente artigo aponta para a possibilidade dos estudos do fazer, dizer e pensar serem feitos como operantes inter-relacionados, visto que uma forma do que pode vir a ser conceituado como pensar pode ser empriricamente estudado como eventos privados verbais. Tais estudos de eventos privados verbais como mandos, poderão ser estudados empriricamente como são feitos os estudos de mandos, na análise do comportamento verbal explícito, levando-se em consideração a possibilidade de análise empírica do fazer, do dizer e do pensar como operantes verbais integrados. A integração pode ser feita com base nas variáveis controladoras, que foram demonstradas serem tão acessíveis quanto as variáveis que controlam comportamentos publicamente observáveis, uma vez observado que a dicotomia público e privado é uma questão de acessibilidade.
Referências
Anderson, C. M.; Hawkins, R. P.; Freeman, K. A. and Scotti, J. R. (2.000). Private Events: Do They Belong in a Science of Human Behavior? The Behavior Analyst, 23, 1-10.
Baldwin, A. L. (1973). Teorias do Desenvolvimento da Criança. ( D. M. Leite, Trd). São Paulo: Livraria Pioneira Editora. Capts. 5,6,7,8e9. ( Trabalho originalmente publicado em 1967).
Barbosa Amorim, C.F.R. (2001). O que se diz e o que se faz: um estudo sobre interações entre comportamento verbal e comportamento não verbal. Dissertação de mestrtado apresentada no Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento. PUC . São Paulo.
Baum, W.M. (1999). Compreender o Behaviorismo.( M.T. Araújo Silva, M. A . Matos, G.Y. Tomanari & E.Z. Tourinho, Trads.). Porto Alegre: Ed. Artmed. ( Trabalho originalmente publicado em 1994).
Bijou, S.W. e Baer, D. (1962). Child Development. Vols I e II. New York: Appleton-Century-Crofts.
Burns, G.L; Staats, A.W. (1991). Rule-Governed Behavior: Unifying Radical and Paradigmatic Behaviorism. The Analysis of Verbal Behavior.
Carrol, R. J. ; Hesse, B.E. (1987). The effects of alternating mand and tact training on the acquisition of tacts. The Analysis of Verbal Behavior, 5, 55-65.
Catania, A.C. ( 1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. ( D.G. de Souza, Org. ). Porto Alegre: Ed. Artmed. ( Trabalho originalmente publicado em 1998).
Cerutti, D.T. ( 1989). Discrimination theory of Rule-Governed Behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 51, 259-276.
Critchfield, T.S. ( 1996). Diferential latency and selective nondisclosure in verbal self reports. The Analysis of Verbal Behavior,13,49-63
Davidoff, L. L. (2001). Introdução à Psicologia. ( L. Perez, Trad.) . São Paulo: Ed. Makron Books. ( Trabalho originalmente publicado em 1987). Terceira Edição.
Deacon,J.R. e Konarski, E.A. (1987). Correspondence training: an example of rule-governed behavior? Journal of Applied Behavior Analysis, 20, 391-400.
Fantino, E. e Logan, C. A. ( 1979). The Experimental Analysis of Behavior: A biological perspective. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
Greenspoon, J. (1955). The reinforcing effect of two spoken sounds on the frequency of two response. American Journal of Psychology, 68,409-416.
Greenwood, C.R., Carta, J.J.,Hart, B., Kamps, D., Terry, B., Arreaga-Mayer,C., Atwater, J., Walker, D., Risley, T. & Delquadri, J.C. (1992). Out of the Laboratory and Into the Community: 26 Years of Applied Behavior Analysis at the Juniper Gardens Children`s Project. American Psychologist, 47 ( 11), 1464-1474.
Hayes, S.C. ; Hayes,L.L. ( 1989). The verbal action of the listener as a basis for rule-governance. Em S.C. Hayes ( Ed), Rule-Governed Behavior: cognition, contingencies and instructional control. ( Pp. 153-188). New York and London: Plenum Press.
Honig, W. K. (1966). Operant Behavior: Areas of Research and Application. New Jersey: Prentice-Hall.
Honig, W.K.; Staddon, J.E.R. ( 1977 ). Handbook of Operant Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Kohn, A. (1998). Punidos pelas Recompensas. ( C.W. Bergamini e M.H. Steiner, Trads.) São Paulo: Ed. Atlas. ( Trabalho originalmente publicado em 1992).
Kritch, K.M. ; Bostow, D.E. (1993). Verbal responses to past events: intraverbal relations, or tacts to private events? The Analysis of Verbal Behavior, 11, 1-7.
Lewis, M. e Wolkmar, F.R. (1993). Aspectos Clínicos do Desenvolvimento na Infância e Adolescência. ( G.Giacomet, Trd.) Porto Alegre: Ed. Artmed. Caps. 4 e 5. ( Trabalho originalmente publicado em 1990).
Matos, M. A. ( 1997). Eventos privados em uma ciência do comportamento. Em R.A . Banaco (Ed.), Sobre Comportamento e Cognição. ( Pp.230-242). São Paulo: Ed. Arbytes.
Mills, M. (1974). Recognition of mothers voice in early infance. Nature, 31.
Moore, J. (2.000). Thinking About Thinking and Feeling About Feeling. The Behavior Analyst. 23, 45-56.
Okouchi, H. (1999). Instructions as Discriminative Stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 72, 205-214.
Oliveira-Castro, J.M. ( 2000). The negative function of “Doing in the Head” and Behavioristic interpretations of private events. Revista Mexicana de Analisis de la Conducta, 26, 1-25.
Palmer, D.C. ( !998). The speaker as a listener: An interpretation of structural regularities in verbal behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 15, 3-16.
Paniagua, F.A. e Baer, D. M. (1982). The Analysis of Correspondence Training as a Chain Reinforceable at Any Point. Child Development, 53, 783-798.
Ribeiro, A.F. (1989). Correspondence in children`s self report: tacting and manding aspects. Journal of the Experimental Analysis of Behavior,51,361-367.
Sanabio, E. T. ( 2.000). Punição de relato verbal: uma contribuição para a análise do comportamento verbal. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília. Brasília. DF.
Simonassi, L. E.; Cardoso de Menezes, M.A.; Elias, P.V.O. & Amorosino, I. (2000). Privacidade e Formulação de Regras. Resumos da XXX Reunião Anual de Psicologia, p. 93. Brasília: Sociedade Brasileira de Psicologia.
Simonassi, L.E.; Tourinho, E.Z. ; Vasconcelos Silva, A. ( 2001). Comportamento privado: acessibilidade e relação com comportamento público. Psicologia Reflexão e Crítica, 14 (1). No prelo.
Skinner, B.F. ( 1967). Ciência e Comportamento Humano. ( J.C. Todorov, R. Azzi, Trds.). Brasília: Ed. da UnB. ( Trabalho originalmente publicado em 1953).
Skinner, B.F. ( 1982). Sobre o behaviorismo. ( M.P. Villalobos, Trd.). São Paulo: Ed. Cultrix.( Trabalho originalmente publicado em 1974).
Skinner, B.F. ( 1991) . Questões recentes na análise comportamental.( A .L. Neri, Trd.). São Paulo: Ed. Papirus. ( Trabalho originalmente publicado em 1989).
Skinner, B.F. (1989). The behavior of the listener. Em S.C. Hayes ( Ed.), Rule-Governed Behavior: cognition, contingencies and instructional control. ( Pp. 85-96). New York and London: Plenum Press.
Spradlin, J. (1985). Studying the effects of the audience on verbal behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 3, 5-9.
Staats, A.W.; Staats, C.K.(1973). Comportamento Humano Complexo. ( C.M. Bori, Trd.). São Paulo: Ed. E.P.U. ( Trabalho originalmente publicado em 1966).
Stenberg, R.J. (2.000). Psicologia cognitiva.(M.G. Borges Osório, Trd.). Porto Alegre: Ed. Artmed. ( Trabalho originalmente publicado em 1996.)
Torgrud,L.J. e Holborn,S. (1990). The effects of verbal performances descriptions on non-verbal operant responding. Journal of the Experimental Analysis of Behavior,54,273-291.
Tourinho, E.Z. (1997). Eventos privados em uma ciência do comportamento. Em R. A . Banaco (Ed.), Sobre Comportamento e Cognição. (Pp. 174-187). São Paulo: Ed. Arbytes.
Twyman, J.S.( 1996). The functional independence of impure mands and tacts of abstract stimulus properties. The Analysis of Verbal Behavior,13,1-19.
Wilson, K.G e Hayes, S.C. (2.000). Why It Is Crucial to Understand Thinking and Feeling: An Analysis and Application to Drug Abuse. The Behavior Analyst, 23, 25-43.
Wolpe, J. (1976). A prática da terapia comportamental. (W.G. Clark Jr., Trad.) São Paulo: Editora Brasiliense. (Trabalho originalmente publicado em 1973).
[1] Professor do Departatmento de Psicologia da Universidade Católica de Goiás. Apoio CNPq 301.881-88-0
[2] Estou aqui me referindo à PARTE IV do livro do referido autor. Os interessados em verificar mais pormenorizadamente a função do ouvinte no episódio verbal poderão encontrar artigos recentes no periódico The Analysis of Verbal Behavior. Tal periódico lida exclusivamente com análise do comportamento verbal como um operante.
[3] Grifos meus.
"Equivalência de Estímulos: uma Análise do Comportamento Simbólico"
Autor(a): Olivia Misae Kato - Universidade Federal do Pará
Antes de uma
análise do comportamento simbólico baseada no referencial teórico
analítico-comportamental, é necessário esclarecer o sentido
empregado dos termos signo, símbolo, significado e referente na Semiótica
e Lingüística. Estes termos são fundamentais para compreender
o comportamento simbólico nas teorias tradicionais do significado.
No sentido etimológico, a palavra Semiologia ou Semiótica se
origina da raiz grega semeion que quer dizer signo. Assim, Semiologia ou Semiótica
tem sido concebida como "a ciência de todas as linguagens"
(Santaella, 1999), a "formal doutrina dos signos" (Peirce, 1975)
ou, ainda, "uma ciência que estude a vida dos signos no seio da
vida social" (Saussure, 1995). Segundo Eco (2000), Peirce e Saussure
são os pioneiros da semiótica contemporânea e suas definições
teóricas de semiótica são consideradas clássicas.
Embora estas definições tenham um sentido geral e vago sem especificar
seus limites de abrangência, são as mais usadas.
Além desta imprecisão na especificação do objeto
de estudo da Semiótica, não há um consenso universal
no uso de sua terminologia mais freqüentemente utilizada. O termo signo
é muito vago e ambíguo, confundindo-se com outros termos como
índice, ícone e símbolo, que são considerados
modalidades ou espécies de signo de acordo com as diversas triconomias
de signos, propostas por Peirce (1975). Estes termos não têm
o mesmo sentido para vários autores.
Esta grande divergência conceitual na Semiótica tem gerado contraditórias
classificações dos signos, tornando difícil a compreensão
de alguns termos chaves (signo, símbolo, referência e significado)
usados para explicar o processo simbólico nas teorias tradicionais
do significado. A compreensão destes termos é importante para
estabelecer um paralelo entre esta análise mentalista do comportamento
simbólico e uma analítico-comportamental, baseada na análise
do controle de estímulo.
Signo, Símbolo, Referência e Significado
Como os signos constituem entidades fundamentais em Semiótica, a busca
dos filósofos de uma definição clássica e a tentativa
de classificá-los tem sido constante. No entanto, a rede conceitual
tem sido estabelecida de forma arbitrária e contraditória, o
que tem gerado esta indefinição na nomenclatura semiótica.
Apesar da inexistência de uma terminologia universalmente aceita, parece
existir um consenso entre as diversas definições de signo quanto
à noção explícita ou implícita de representação
psíquica. De acordo com Peirce (1975), representar é empregado
no sentido de "estar no lugar de, ou seja, estar em relação
tal com outro que, para certos propósitos, algum espírito o
tratará como se fosse aquele outro" (p. 114). O termo representamen
refere-se àquilo que representa e representação é
usado para se referir ao ato ou relação de representar. Esta
noção de representação que sugere o signo como
elo de mediação introduz, neste processo semiótico, a
noção de significado e a noção de signos como
veículos de significado (Epstein, 1991).
Segundo Peirce (1975), o signo pode ser algo que "está para alguém
no lugar de algo sob determinados aspectos ou capacidades". Assim, signo
tem um sentido amplo, pois refere-se a uma palavra, uma ação,
um pensamento ou qualquer coisa que pressupõe um interpretante que
possa dar origem a outro signo. O interpretante não é o intérprete
do signo, consiste no processo relacional que é criado na mente do
intérprete, cuja causa imediata é o signo e a causa mediata
é o objeto. Para Peirce um signo pretende representar, pelo menos em
parte e mesmo falsamente, um objeto que é sua causa ou determinante.
Esta representação do objeto pressupõe que este objeto
afeta a mente, produzindo algo nela que é mediatamente devido ao objeto.
O signo, para ser considerado como tal, precisa ser capaz de representar o
objeto de algum modo, como, por exemplo, a palavra navio, sua fotografia,
sua planta, seu esboço, seu desenho ou sua pintura. Todos são
considerados signos do objeto navio, mas não são nem o próprio
navio nem a idéia geral de navio, cada um representa-o apenas em um
aspecto (Santaella, 1999).
Para diferenciar os tipos de signo, Peirce (1975) estabeleceu várias
classificações triádicas chamadas triconomias dos signos.
Segundo Mota e Hegenberg (em Peirce, 1975, p. 27), os signos foram catalogados
em 76 grupos, sendo a mais discutida a triconomia que inclui três grandes
categorias: ícone, indicadores e símbolo. Apesar de apontar
algumas críticas, Eco (2000) considera esta distinção
de emprego universal e que ela seja "talvez a mais popular triconomia
peirceana e a mais conhecida dentre as classificações dos tipos
de signo" (p. 157).
O ícone é um tipo de signo que indica uma qualidade ou propriedade
de um objeto por compartilhar um ou mais traços deste objeto. Assim,
o ícone é o signo que se assemelha com o objeto que representa
ou que significa, como no caso de uma fotografia, filme ou desenho que se
assemelha com o objeto fotografado, filmado ou desenhado, respectivamente.
Os esquemas, os quadros e os modelos são outros exemplos de ícone.
Os signos são considerados indicadores quando o seu significado torna-se
claro pelos efeitos que seu objeto nele produz, como a sombra indica a posição
do sol, o cata-vento indica a direção do vento e a fumaça
indica fogo. No caso dos indicadores ou índices, na relação
signo-objeto, a relação do signo com seu objeto é direta,
causal e real como um sintoma tem relação direta com uma doença.
Um símbolo é uma espécie de signo arbitrário que
mantém com o objeto uma relação convencional, designando-o
independentemente de sua semelhança com o objeto (ícone) ou
de suas relações causais com seu objeto (indicadores). Os símbolos
são, portanto, signos que representam objetos devido a convenções
sociais, como as palavras, considerando a linguagem como parte da categoria
dos símbolos. Segundo Mota e Hegenberg, (em Peirce, 1975, p. 28) os
pensadores contemporâneos compartilham muitas dessas formulações
de Peirce, admitindo que os símbolos se diferenciam dos demais signos
pelo seu caráter convencional. As convenções sociais
são "regras"definidas pela comunidade que faz uso dos símbolos.
Segundo Orlandi (1986), Saussure introduz a língua como objeto de estudo
da Lingüística, considerando-a como um "sistema de signos",
no qual o signo lingüístico é uma entidade psíquica
que consiste na associação entre significante (imagem acústica)
e significado (conceito). Para Saussure (1995), a imagem acústica "não
é o som material, coisa puramente física, mas a impressão
(empreinte) psíquica desse som, a representação que dele
nos dá o testemunho de nossos sentidos" (p. 80). Saussure cita
o pensamento para exemplificar este caráter psíquico das imagens
acústicas. Na sua concepção, a imagem acústica
de uma palavra é única e independente das diversas formas de
pronunciá-la. No conceito, o significado de uma palavra é único,
desconsiderando as diferentes formas do objeto. Na formulação
saussureana, a relação entre significante e significado é
arbitrária e convencional, sendo este sistema de signos o que constitui
a língua formada por unidades abstratas e convencionais.
A noção de significado é indissociável da noção
de signo. Seguindo a tradição saussureana, o signo consiste
na relação entre o significante que refere-se ao plano da expressão
e o significado que está situado no plano do conteúdo. Enquanto
os de influência peirceana e oriundos da semiótica dos estóicos,
incluem o objeto na especificação do tipo de relação
signo-objeto que define a espécie de signo na triconomia dos signos.
A existência do signo depende de um intérprete para interpretá-lo
como signo de algo e esta interpretação do signo, indicando
o objeto, é o significado (Peirce, 1975).
Segundo Epstein (1991) os estóicos consideravam três entidades
interligadas na função sígnica que consistia em uma tríade
composta do significado, símbolo e referente externo. O referente e
o símbolo eram considerados como realidades corporais e o significado
como incorporais. Esta tríade tem sido representada graficamente pelo
seguinte triângulo semiótico conforme proposto por Ogden e Richards
(1923, em Epstein, 1991, p. 22).

O referente nesta tríade é o objeto denotado que se mantém
constante no significado. A denotação ou extensão de
um conceito consiste na classe de objetos abrangidos ou denotados por esse
conceito como, por exemplo, a denotação do termo "paraense"
envolve todos os paraenses que possuem naturalidade paraense. O significado,
que subsiste no pensamento, está sujeito a variações
mesmo quando o referente e o símbolo permanecem inalterados. As variações
supostamente decorrem do uso diversificado do referente em contextos diferentes,
dependendo do seu atributo ou característica que se destaca em cada
situação.
Eco (2000) sugere que este triângulo semiótico muito simplificado,
mas bem conhecido pode ser traduzido pelo triângulo peirceano, substituindo-se
a referência pelo interpretante, o símbolo pelo representamen
e o referente pelo objeto.
EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS E COMPORTAMENTO SIMBÓLICO
Análise
Comportamental de Desempenhos Emergentes
A questão da emergência de novos comportamentos, não explicitamente
ensinados, mantem-se como uma questão polêmica ainda não
respondida e que tem intrigado os analistas do comportamento, pois seu referencial
teórico não fornecia a base explicativa ou descritiva para este
tipo de comportamento que caracteriza a produtividade. O paradigma da equivalência
de estímulos, proposto por Sidman e Tailby (1982) constitui um modelo
descritivo (cf. Sidman, 1997), para os desempenhos emergentes envolvidos em
processos comportamentais complexos como a cognição e a linguagem
(de Rose, 1993; Sidman, 1986; 1992). Neste sentido, a investigação
das condições nas quais ocorre a emergência de novos comportamentos
é necessária e de fundamental importância para uma avaliação
analítica destes comportamentos complexos. A demonstração
de novos comportamentos, por meio de testes, é considerada uma evidência
de que as pessoas podem aprender mais do que são explicitamente ensinadas.
As relações de equivalência por envolver desempenhos emergentes
não diretamente ensinados têm despertado o interesse de analistas
do comportamento, por representar uma tentativa de responder a questão
da produtividade comportamental e, especialmente, por sua relação
com o comportamento simbólico envolvido na produção e
compreensão da linguagem (Sidman, 1986, 1994, 1997; Sidman e Tailby,
1982).
As relações de equivalência, definidas na teoria matemática
de conjuntos, descrevem fenômenos do mundo real que incluem observações
comportamentais tais como as relações ambiente-comportamento
especificadas nas contingências de reforço (cf. Sidman, 1997).
Portanto, de acordo com Sidman, a definição matemática
da relação de equivalência tem ampla generalidade de modo
que as generalizações matemáticas incluem fenômenos
comportamentais como relações de equivalência entre estímulos.
Na teoria matemática dos conjuntos, uma relação de equivalência
requer as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. De acordo
com Sidman e Tailby (1982), estas também constituem as propriedades
comportamentais definidoras da equivalência de estímulos. A demonstração
destes desempenhos emergentes por meio de testes comportamentais, na ausência
de ensino direto, constitui evidência das relações de
equivalência. Portanto, as relações de equivalência
e suas propriedades relacionais são inferidas com base nos resultados
dos testes comportamentais e caracterizam-se por serem desempenhos emergentes
não diretamente ensinados que emergem a partir do ensino direto de
algumas discriminações condicionais entre os estímulos.
Sidman e Tailby propuseram o procedimento de emparelhamento arbitrário
com o modelo (arbitrary matching to sample) como um meio de estabelecer as
relações condicionais e testar as relações de
equivalência e de suas propriedades relacionais.
Uma relação condicional, para ser considerada uma relação
de equivalência, requer a emergência de novas relações
que são as suas propriedades definidoras de reflexivividade, simetria
e transitividade. A reflexividade requer uma relação condicional
de identidade de cada estímulo consigo mesmo. Por exemplo, a relação
de identidade que cada palavra (em inglês TWO, em francês DEUX
e em português DOIS) tem com ela mesma. Esta relação reflexiva
pode ser testada através do procedimento de emparelhamento generalizado
por identidade (generalized identity matching) que requer uma relação
condicional de cada novo estímulo consigo mesmo, sem consequência
diferencial ou qualquer instrução verbal, para garantir que
a base de escolha (dimensão controladora) seja a identidade.
Na propriedade de simetria é requerida a reversibilidade funcional
dos estímulos modelo e de comparação. Portanto, a evidência
da uma relação simétrica é fornecida pela inversão
das funções dos estímulos modelo e de comparação
envolvidos na relação condicional. Esta propriedade pode ser
ilustrada pelo mesmo exemplo acima, envolvendo as palavras em inglês
TWO (A), em francês DEUX (B) e em português DOIS (C). Quando a
relação inversa BA emerge (DEUX-TWO) após o ensino explícito
da relação condicional AB (TWO-DEUX), onde a palavra TWO é
o modelo e a palavra DEUX, a comparação. A mesma descrição
se aplica para a emergência da relação simétrica
CB após o treino BC.
Uma relação de equivalência requer, ainda, que a relação
condicional seja transitiva. A propriedade de transitividade é demonstrada
pela emergência de uma nova relação condicional, a partir
do ensino direto de duas outras relações condicionais. Assim,
uma relação transitiva requer que três estímulos
estejam envolvidos na relação (A, B e C). No exemplo descrito
acima, em um arranjo de treino de série linear (LS), após as
relações condicionais AB (TWO-DEUX) e BC (DEUX-DOIS) terem sido
ensinadas, a relação condicional AC emerge (TWO-DOIS) na ausência
de ensino direto, sendo esta constituída pelo modelo A (TWO) da primeira
relação e a comparação C (DOIS) da segunda relação.
Neste mesmo exemplo, o teste combinado de simetria e transitividade, denominado
teste de equivalência CA (DOIS-TWO) consiste na simetria da transitividade
AC. Este teste de equivalência CA utiliza o estímulo de comparação
C (DOIS) da segunda relação (BC) como modelo e o modelo A (TWO)
da primeira relação (AB) como comparação. Assim,
estímulos relacionados condicionalmente através de ensino direto
tornam-se equivalentes sem ensino adicional. Esta classe de três membros
(TWO, DEUX e DOIS) poderia ser expandida adicionando-se outros membros como,
por exemplo, o numeral "2", o algarismo romano "II" ou
a quantidade correspondente.
No arranjo de treino LS (AB e BC), os estímulos de comparação
(B) da primeira relação condicional ensinada (AB) são
utilizados como modelos na segunda relação ensinada (BC). Neste
tipo de arranjo de treino, a distância nodal nas relações
de equivalência testadas aumenta a medida que são estabelecidas
outras relações condicionais. Outros arranjos de treino têm
sido utilizados, como os uninodais que sempre envolvem somente um nódulo
no treino (modelo ou comparação), sem gerar aumento na distância
nodal quando várias discriminações condicionais são
ensinadas. Estímulos nodais são aqueles que são condicionalmente
relacionados pelo treino a dois ou mais estímulos (Fields e Verhave,
1987; Fields, Verhave e Fath, 1984). No arranjo de treino um para muitos ou
modelo como nódulo, envolvendo um par de estímulos modelos para
múltiplos pares de comparações, são ensinadas
as relações condicionais AB e AC. No exemplo acima, seriam ensinadas
as discriminações AB (TWO-DEUX) e AC (TWO-DOIS). Este tipo de
arranjo uninodal usando o modelo como nódulo (comumente, a palavra
falada) tem sido amplamente empregado nas pesquisas desenvolvidas no Brasil
que investigam as variáveis que afetam o ensino da leitura. No arranjo
de treino muitos para um ou comparação como nódulo, envolvendo
múltiplos pares de modelos para um par de comparações,
são ensinadas as relações condicionais BA (DEUX-TWO)
e CA (DOIS-TWO). Nestes arranjos uninodais é possível aplicar
somente o teste combinado de simetria e transitividade BC (DEUX-DOIS) e CB
(DOIS-DEUX), considerados testes de equivalência.
A transferência de funções entre membros de uma classe
de estímulos equivalentes, na ausência de ensino explícito,
constitui um aspecto especialmente relevante para a formação
de classes de equivalência. Se, por definição, membros
de uma classe de equivalência são estímulos funcionalmente
equivalentes, uma função estabelecida diretamente a um dos membros
da classe pode transferir-se para os demais membros desta classe. A expressão
transferência de funções refere-se a uma aquisição
não ensinada de funções de estímulos por membros
de uma classe de estímulos equivalentes (Sidman & Tailby, 1982).
Na produção e compreensão da linguagem, as classes verbais
pressupõem relações de equivalência entre o objeto
(figura ou desenho), a palavra ditada e a palavra impressa. Além disso,
qualquer função comportamental atribuída a um membro
da classe pode transferir-se para os demais membros, como no caso de transferência
da função de eliciação respondente entre membros
de uma classe de equivalência (Dougher, Augustson, Markham, Greenway,
& Wulfert, 1994). Por exemplo, se for estabelecida a função
de eliciação respondente a uma barata, passando este inseto
a gerar reações emocionais que caracterizam o "medo",
esta função de eliciação poderá transferir-se
para palavra barata se esta for funcionalmente equivalente à barata.
Assim, a apresentação isolada da palavra barata poderá
eliciar as reações emocionais semelhantes as geradas pela barata.
Além destes respondentes, poderá controlar respostas de fuga
e esquiva de forma semelhante ao controle exercido pelo inseto barata. Sidman
(1994) comenta que apresentamos fortes reações emocionais não
somente às representações (símbolos) não-linguísticos,
mas também "reagimos frequentemente a palavras com sentimento
de dor, e nós usamos palavras para infligir dor" (p. 4). Outras
funções comportamentais também podem transferir-se entre
membros de uma classe de equivalência, envolvendo palavras (faladas
ou escritas), objetos, ações e eventos ambientais, ou mesmo
odores e sabores no caso de alimentos podem ser funcionalmente equivalentes
aos seus nomes.
A transferência de funções comportamentais foi inicialmente
documentada pelo estudo de Lazar (1977) que demonstrou a transferência
de funções ordinais para os novos estímulos da classe
relacionados condicionalmente por meio de um procedimento de emparelhamento
com o modelo. Uma série de estudos foi conduzida posteriormente para
verificar a transferência de outras funções comportamentais
entre membros de uma classe de equivalência como, por exemplo, a transferência
de funções consequenciais de reforço. A transferência
de funções consequenciais é demonstrada quando as funções
de reforço ou de punição estabelecida em um membro da
classe de equivalência passa a ser exercida pelos outros membros desta
classe. Os estudos de Hayes, Kohlenberg e Hayes (1991) e Greenway, Dougher
e Wulfert (1996) parecem sugerir que funções consequenciais
de reforço e de punição podem transferir-se entre membros
de uma classe de equivalência. Tem sido bem documentado, ainda, que
funções discriminativas estabelecidas em um dos membros da classe
de equivalência podem transferir-se para os demais membros da classe,
sem treino explícito (de Rose, McIlvane, Dube, Galpin, & Stoddard,
1988a; de Rose, McIlvane, Dube, & Stoddard, 1988b; de Rose, Garotti, &
Ribeiro, 1992; de Rose, Thé e Kato, 1995; Kato, 1999).
Comportamento
Simbólico: Símbolo em classes de equivalência de Estímulos
O comportamento simbólico pode ser considerado aquele que está
sob controle de um símbolo ou quando o controle exercido por um objeto,
quantidade, evento ambiental ou comportamental (referente, na terminologia
das teorias referenciais do significado) passa a ser exercido por um símbolo
(palavras, numerais, códigos de trânsito, gestos na linguagem
do surdo-mudo e outros símbolos que não mantêm com o seu
referente uma relação de similaridade. Sidman (1994) relata
dois fatos ocorrridos que ilustram a reação das pessoas a símbolos
não lingüísticos "como se eles fossem as coisas que
eles representam" (p. 3). Um dos fatos ocorreu, nos Estados Unidos, onde
as pessoas reagiram às instituições governamentais e
ao sistema de governo, queimando a bandeira do país como forma de protesto.
A função simbólica da bandeira estava fortemente estabelecida
por ser mantida uma relação de equivalência com o sistema
de governo americano que teve um efeito surpreendente sobre o comportamento
dos agentes governamentais, interrompendo o processo. Neste caso, a bandeira
mantém uma relação arbitrária e não de
similaridade física com o país que ela representa, funcionando
como símbolo do país (estímulo equivalente ao país)
tanto pelos que a usaram para manifestar sua insatisfação como
pelos que reagiram à este protesto.
O outro fato relatado por Sidman, ocorreu durante a queda do governo comunista
na Rússia. Cidadãos russos depredaram a estátua de Lenin
e, em seguida, jogaram-na no chão, pisando-a, chutando-a e batendo-a
com martelo como se fosse o próprio Lenin ou o regime de governo que
ele representava. Sidman (1994) comenta que a "estátua, certamente,
não estava viva - não era o próprio Lenin - mas as pessoas
estavam ainda tentando matá-la. Neste caso, a estátua não
constitui um símbolo do Lenin por não manter uma relação
arbitrária e, portanto, não apresentam relações
de equivalência. A relação entre a estátua e o
Lenin tem como base a similaridade física, o que classificaria a estátua
como sendo um signo ícone e não um simbolo na triconomia peirceana,
que atribui ao símbolo um carater arbitrário e convencional.
Na análise comportamental poderia ser considerado generalização
de estímulos ou equivalência de características, que consistem
em relações baseadas nas características físicas
comuns ou estruturais do estímulo, mas não simbólicas.
O caráter não simbólico deste tipo de equivalência
a distingue da equivalência arbitrária ou simbólica, definida
por Sidman e colaboradores, como relações não dependentes
da similaridade física, pois isto invalidaria o teste de equivalência
e seu status simbólico (Wilkinson e McIlvane, no prelo). No entanto,
neste mesmo fato ocorrido, o próprio Lenin e sua estátua podem
ser considerados símbolos do regime de governo que ele representava,
seu referente. A destruição da estátua pelos russos que
se mantinha intacta até o momento simbolizava a queda do governo. Existe
uma relação de equivalência (simbólica) entre a
estátua e o regime de governo que ela representa e, por serem funcionalmente
equivalentes controlam as mesmas classes de respostas. Os russos reagiram
à estátua de Lenin como se estivessem reagindo ao regime de
governo que ela representava. Estes fatos relatados por Sidman exemplificam
o controle simbólico por símbolos não-lingüísticos,
mas as palavras como símbolos lingüísticos também
podem exercer controle sobre operantes e respondentes similar ao exercido
por objetos, quantidade, outras palavras, ações e eventos ambientais
(seus referentes, na termilologia referencial do significado).
A análise do comportamento simbólico baseada nas relações
de equivalência pode ser um poderoso instrumento de análise dos
processos envolvidos no desenvolvimento da linguagem, como tem sido sugerido
por diversos estudos. O paradigma da equivalência de estímulos
foi proposto por Sidman e Tailby (1982) como um modelo descritivo dos processos
comportamentais complexos envolvidos no comportamento simbólico, como
a produção e compreensão da linguagem (Sidman, 1986,
1992, 1994, 1997; Sidman e Cresson, 1973). Segundo Sidman, o comportamento
simbólico é controlado pelas relações de equivalência
entre os símbolos e seus referentes que emergem no contexto de uma
contingência de quatro termos. As palavras podem ser consideradas símbolos
quando elas se "referem" a coisas ou eventos. Sidman e Tailby descrevem
o procedimento de discriminação condicional como aquele que
estabelece relações condicionais entre estímulos, mas
também gera relações de equivalência (por exemplo,
entre símbolos e seus referentes). Quando a equivalência entre
estímulos modelos e de comparações é demonstrada,
Sidman e Tailby sugerem denominar o desempenho resultante de emparelhamento
por "não identidade", "arbitrário" ou "simbólico".
A produção e compreensão da linguagem tem sido tradicionalmente
considerada como um comportamento simbólico por envolver o uso de símbolos,
como as palavras. As teorias tradicionais do significado definem os símbolos
como uma espécie de signo arbitrário por manter com o objeto
que representa uma relação convencional, o que os distingue
dos demais signos. Relações arbitrárias entre estímulos
(por exemplo, entre palavras e objetos) e que não apresentam similaridade
física podem ser estabelecidas na ausência de regras verbais
ou de respostas mediadoras como a nomeação (de Rose, 1993).
O Significado
como Relações de Equivalência
A noção saussureana e peirceana de significado é indissociável
da noção de signo como veículo de significado e ambos
pressupõem representação psíquica ou interpretação
mental.
O significado das palavras tem sido analisado tradicionalmente pelas categorizações
específicas baseadas nas relações semânticas que
envolvem as palavras, mas também a correspondência entre as palavras
e as classes de eventos. Catania (1999) comenta que as definições
de significado baseadas na associação de palavras e no diferencial
semântico são pouco esclarecedoras sobre o significado comportamental
dos significados. Acrescenta, ainda, que "Os significados não
são propriedades das palavras em si; são propriedades de nossas
respostas às palavras" (p. 298). Exemplifica esta afirmação
com a resposta de parar diante da luz vermelha e prosseguir diante da luz
verde do semáforo para enfatizar que estas respostas diferenciais são
respostas às cores e não aos seus significados. Argumenta que
a simetria entre o estímulo e a resposta contribui para o vocabulário
de palavras, em vez de modalidades orais ou escritas específicas e,
para as relações entre tatos e eventos ambientais. Neste sentido,
Catania (1999) ressalta a importância desta simetria para a noção
de significado, comentando que "a linguagem do significado é independente
de se as palavras funcionam como estímulos ou como respostas. Essa
pode ser a forma mais importante como as classes de equivalência entram
no comportamento verbal." (p. 284)
A noção de significado como relações de equivalência
introduz uma nova maneira de conceber o significado e está fundamentada
no modelo de equivalência de estímulo (Sidman e Tailby, 1982;
Sidman, 1986; 1992; 1994; 1997). Sidman e Tailby argumentam que as "classes
de estímulos formadas por uma rede de relações de equivalência
estabelece a base para o significado referencial" (1982, p. 20). O significado
atribuído a uma palavra não é um atributo inerente à
própria palavra e nem ocorre independentemente dos seus usuários
(Sidman, 1994), significa que a palavra mantém uma relação
de equivalência com outros estímulos, como as ações,
qualidades, quantidades, objeto ou eventos que são considerados seus
referentes pelas teorias tradicionais do significado. Segundo Sidman, a relação
de equivalência pode substitutir o conceito popularmente usado de correspondência
entre palavras e coisas. Embora a relação de equivalência
não seja diretamente ensinada, sua emergência decorre das discriminações
condicionais ensinadas em uma contingência de quatro termos e a forma
de verificar sua emergência é testá-la. Dizer que uma
palavra tem o mesmo significado de outra, quer dizer que as duas palavras
são equivalentes e têm o mesmo significado por fazerem parte
da mesma classe de equivalência. Os diversos significados que um símbolo,
como a palavra, pode assumir depende do controle contextual em uma contingências
de cinco termos.
O Significado
sob Controle Contextual
O que faz não comermos ou degustarmos as palavras de ítens comestíveis
(como pão, banana, bolo), não pisarmos ou amassarmos os nomes
de insetos nocivos (por exemplo, a palavra barata, aranha, formiga) e não
cheirarmos os nomes de flores ou perfumes (como alfazema, sândalo, jasmim,
cheiro do Pará e patchuli)? Enfim, o que torna a palavra (símbolo)
diferente de seu referente (objetos, eventos ambientais, ações,
ou outras palavras)? e o que faz a mesma palavra ter diferentes significados
e ser utilizada com sentidos diferentes? Sidman (1992) levanta este tipo de
questão e as responde usando o modelo de equivalência de estímulos.
Todas estas perguntas podem ser, pelo menos parcialmente, respondidas por
uma análise do controle contextual em uma contingência de cinco
termos (Bush, Sidman e de Rose, 1989; Lynch e Green, 1991; Lopes Jr. e Matos,
1995; Sidman, 1986; 1994).
Catania (1999) comenta que as palavras escritas em uma língua que não
conhecemos não têm significado e, que uma palavra pode ter muitos
significados (como a palavra batida usada como colisão de carros, mistura
de aguardente e suco ou cerco policial), mas o "seu significado muda
apenas no sentido de que respondemos diferencialmente a ela em seus diferentes
contextos" (p. 298)
Sidman (1986) propõe a ampliação da noção
de contingência de quatro para cinco termos, visando incluir o controle
contextual das relações de equivalência. A noção
de contingência de quatro termos permite descrever como e em que circunstâncias
uma discriminação condicional é estabelecida e como as
relações de equivalência emergem e assim, como duas palavras
diferentes mas equivalentes podem ser entendidas e empregadas com o mesmo
sentido, mesmo significado. Esta ampliação da noção
de contingência nos permite descrever como e em que circunstâncias
um estímulo pode exercer controle contextual sobre as relações
condicionais e de equivalência - controle contextual do significado
- mostrando como o mesmo estímulo ou estímulos funcionalmente
equivalentes podem ter diferentes funções, dependendo do contexto.
Nas classes gramaticais, o uso sequencial das palavras na sentença
pode ser afetado pelas suas características semânticas (relações
de equivalência), pois sua posição sintática depende
do contexto fornecido pelas outras palavras (Mackay, Kotlarchyk e Stromer,
1997). Assim, a contingência de cinco termos pode nos ajudar a entender
como a mesma palavra pode ser compreendida e empregada em diferentes sentidos
- diferentes significados - dependendo do controle contextual das outras palavras
nas sentenças de um texto ou de eventos ambientais que contextualizam
a compreensão ou produção de uma palavra. Por exemplo,
além de outros sentidos, a palavra manga pode ser compreendida ou empregada
como fruta ou como parte de um vestuário por fazer parte de ambas as
classes e, seu uso dependerá do controle contextual. A análise
do controle contextual pode nos ajudar, ainda, a explicar porque as palavras
não são cheiradas, degustadas ou não provocam reações
como pisar ou bater da mesma forma que os objetos, qualidades, ações
e eventos ambientais a que elas se referem, por ter uma relação
de equivalência (Sidman, 1994). As palavras participam da classe de
palavras que devem ser lidas, faladas e compreendidas, que é diferente
da classe que elas compartilham com os objetos, ações, qualidades.
O controle contextual especifica a função compartilhada entre
a palavra e seu referente que ocasionam os mesmos comportamentos, por exemplo,
entre a palavra chuva e o evento chuva (catania, 1999; de Rose, 1993).
No entanto, nem todas as funções do evento ou objeto são
compartilhadas pelas palavras, como no caso da chuva, não abrimos o
guarda-chuva para nos proteger da palavra chuva. Pão, frutas, legumes
e outros alimentos participam da classes dos ítens comestíveis,
assim como as flores e os perfumes exalam odores especiais que os tornam membros
da classe de objetos cheiráveis.
A formação de classes de equivalência e a transferência
de funções pode ocorrer sob controle de um estímulo contextual.
A suposta importância do controle contextual das relações
de equivalência para o estudo das variáveis de controle envolvidas
na compreensão e produção da linguagem tem despertado
grande interesse pela investigação das variáveis que
afetam a formação de classes de equivalência sob controle
contextual e a transferência desta função para outros
estímulos (Bush, Sidman e de Rose, 1989; Gatch e Osborne, 1989; Kohlenberg,
Hayes e Hayes, 1991; Lazar e Kotlarchyk, 1986; Lych e Green, 1991; Lopes Jr.
e Matos, 1995).
Classes Sequenciais
e de Equivalência em Classes Gramaticais
Green, Stromer e Mackay (1993) propõem um novo modelo de análise
de desempenhos gerativos derivados de relações de ordem entre
estímulos, visando avaliar a formação das classes sequenciais
e a emergência de novos desempenhos sequenciais. Sugerem que este tipo
de desempenho gerativo é derivado de contingências que estabelecem
a produção de sequências de estímulos. A relevância
teórica e prática deste modelo está no seu potencial
de análise de desempenhos sequenciais emergentes envolvidos nos comportamentos
sintático e aritmético que não podem ser analisados pelos
modelos de análise existentes dos processos comportamentais envolvidos
no encadeamento simples de respostas ou do controle pelo estímulo condicional
dentro da sequência. Green, Stromer e Mackay ressaltam que a análise
experimental cuidadosa das relações estímulo-estímulo
intra e inter-sequências "pode contribuir substancialmente para
nossa compreensão de desmpenhos complexos como o desenvolvimento de
classes gramaticais e a produção de expressões não
ensinadas, mas sintaticamente corretas" (1993, p. 612). Este modelo contribui,
ainda, para o estudo de repertórios básicos e desempenhos conceituais
emergentes de ordinalidade em aritmética (Mackay, Kotlarchyk e Stromer,
1997).
Green, Stromer e Mackay (1993) sugerem os procedimentos de encadeamento de
respostas tradicionalmente empregados para ensinar os desempenhos sequenciais
e gerar desempenhos emergentes. Os dois procedimentos indicados pelos proponentes
são: treino de sequência de 5 estímulos (training 5-stimulus
sequences) e treino de sobreposição de sequências de 2
estímulos (training overlapping 2-stimulus sequences). O primeiro refere-se
ao procedimento padrão de encadeamento que consiste em ensinar a sequência
inteira, adicionando-se gradualmente cada membro do primeiro ao último,
(encadeamento para frente). No segundo procedimento, são ensinadas
várias sequências sobrepostas de dois estímulos e não
a sequência inteira, por exemplo, A1 -> A2, A2 -> A3, A3 ->
A4 e A4 -> A5. Para avaliar estas classes sequenciais ensinadas por diferentes
procedimentos de ensino, Green, Stromer e Mackay propõem os testes
das propriedades da relação de ordem: irreflexidade (não
é reflexiva), assimetria (é unidirecional), transitividade (é
transitiva, por exemplo, se A1-> A2 e A2 -> A3, então A1 ->
A3) e conectividade (mantém conexão de ordem entre todos os
pares de ítens na série), por exemplo, se A1->A2->A3,
então A1-> A2, A2-> A3 e A1-> A3). Para analisar as relações
de ordem entre os estímulos da sequência nestas propriedades,
sugerem testes de produção de sequências (adjacente e
não adjacentes) não ensinadas diretamente.
Green, Stromer e Mackay (1993) sugerem táticas para analisar as relações
de ordem entre estímulos dentro da sequência, a emergência
de novos desempenhos seriais e as relações de equivalência
entre os membros de diferentes sequências que ocupam a mesma posição
ordinal. Supõem, ainda, a substitutabilidade entre estímulos
que ocupam a mesma posição ordinal em diferentes sequências
ensinadas explicitamente, gerando novas sequências ou a produção
de novas sequências formadas por estímulos relacionados condicionalmente
a cada estímulo da seqüência ensinada. Esses autores sugerem
duas táticas para investigar a produção de novas seqüências:
treinar duas ou mais seqüências independentes ou treinar uma seqüência
com membros de classes de equivalência já estabelecidas para,
em seguida, testar a produção de novas seqüências
constituídas por membros de diferentes seqüências ensinadas
separadamente ou por membros das diversas classes de equivalência.
Segundo seus proponentes, este modelo de análise permite avaliar os
efeitos interativos das relações ordinais e de equivalência
na produção de repertórios de comportamentos simbólicos
complexos, como o sintático e aritméticos que envolvem desempenhos
emergentes que ocorrem em circunstâncias apropriadas. Defendem, ainda,
que esta análise de classes seqüenciais é conceitual e
metodologicamente análoga à de equivalência de estímulos,
mas constitui uma ampliação desta por incluir a análise
das classes seqüenciais e de sua interação com as relações
de equivalência na produção de novas seqüências.
UM MODELO PARA O ESTUDO DO COMPORTAMENTO SIMBÓLICO: EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS
A compreensão
da Leitura como Relações de Equivalência: A pesquisa e
suas Implicações Sidman (1997) comenta que nos seus estudos
iniciais envolvendo leitura, empregava o termo "equivalência"
sem saber como defini-lo e sem saber para onde eles o conduziriam e que "estava
preocupado com as origens da compreensão da leitura (Sidman, 1971)"
(p. 127). No estudo de 1971 sobre leitura e equivalências auditivo-visual,
Sidman ensinou um adolescente microencefálico e severamente retardado
a efetuar um leitura com compreensão, emparelhando palavras impressas
a figuras e leitura oral. O jovem apresentou esta leitura com compreensão
após ter sido ensinado a emparelhar palavras ditadas a palavras impressas
e já apresentava no início do estudo, o emparelhamento de palavras
ditadas a figuras e a nomeação de figuras.
Em 1973, Sidman e Cresson demonstraram que dois adolescentes severamente retardados
foram capazes de efetuar uma leitura oral das palavras ensinadas com compreensão,
apresentando as relações de equivalência entre palavras
e figuras. Os adolescentes já apresentavam a relação
condicional AB, selecionando desenhos (B) condicionalmente às palavras
ditadas correspondentes (A). Inicialmente, a relação condicional
AC foi estabelecida, ensinando-os a selecionar vinte palavras impressas (C)
condicionalmente a vinte palavras ditadas correspondentes (A). A demonstração
das relações emergentes BC e CB, envolvendo as relações
entre palavras impressas e desenhos sem serem diretamente ensinados constituiu
evidência da formação de vinte classes de equivalência,
constituídas pelo desenho e pela palavra ditada e palavra impressa
correspondentes. Os resultados destes estudos iniciais sugerem que o paradigma
da equivalência de estímulos pode ser um instrumento importante
para a análise dos processos comportamentais envolvidos na compreensão
da leitura.
As importantes contribuições teóricas do modelo da equivalência
de estímulos para uma análise comportamental de fenômenos
lingüísticos e suas implicações educacionais e clínicas
têm despertado grande interesse de analistas experimentais do comportamento.
O paradigma de equivalência de estímulos gerou uma quantidade
significativa de pesquisas que visavam investigar as variáveis que
afetam a leitura e os procedimentos que otimizam o ensino de repertórios
básicos da leitura com compreensão. Estas pesquisas foram desenvolvidas
com base na noção de que a leitura com compreensão envolve
classes de equivalência entre palavra ditada, figura e palavra impressa
correspondentes e que "os repertórios de ler e escrever constituem
uma rede interligada de relações estímulo-estímulo
e estímulo-resposta" (Souza, Hanna, de Rose, Fonseca, Pereira,
Sallorenzo, 1997, p. 36)
O procedimento de emparelhamento arbitrário com o modelo tem-se mostrado
um procedimento eficiente para estudar os fatores que facilitam ou dificultam
o ensino de leitura em crianças brasileiras não alfabetizadas
que já tinham sido submetidas ao ensino formal da leitura, mas não
sabiam ler (de Rose, Souza, Rossito e de Rose, 1989; 1992; de Rose, Souza
e Hanna, 1996), em idade pré-escolar (Hübner e Matos, 1993; Matos,
Hübner e Peres, 1999; Medeiros, Antonakopoulu, Amorim e Righetto, 1997a),
em adultos (Medeiros, Monteiro e Silva, 1997b) e em estudantes de educação
especial (Melchiori, Souza e de Rose, 2000). Estes estudos em crianças
com dificuldades de leitura, utilizaram um procedimento de emparelhamento
com o modelo baseado na exclusão visando otimizar o ensino (Medeiros
e col., 1997a; Melchiori, Souza e de Rose, 1992) e a construção
de palavras impressas selecionando letras (construção de anagramas)
no procedimento de cópia visando estabelecer o controle por todas as
unidades mínimas (letras e sílabas) da palavra ensinada, o que
tornava possível a leitura generalizada (de Rose e col., 1989; 1992;
de Rose e col., 1996).
Todos esses estudos ressaltam a necessidade do controle por todas as unidades
verbais menores que a palavra (letras e sílabas) para assegurar uma
leitura eficiente e generalizada. Alguns destes estudos demonstraram a importância
da recombinação e variação na posição
das sílabas e/ou das letras na palavra durante o ensino da leitura
(Hübner e Matos, 1993; Matos e col., 1999; Melchiori e col., 2000). Os
autores destes estudos sugerem que esta recombinação e variação
contribuem para o estabelecimento do controle por todas as unidades que compõem
a palavra e que constitui uma das condições necessárias
para desenvolvimento de um repertório básico e rico de uma leitura
eficiente. Outros estudos revelaram que os procedimentos combinados de cópia
com oralização são mais eficientes do que a aplicação
isolada de cada um deles para estabelecer o controle por essas unidades verbais
(Matos e col., 1999; Matos, Peres, Hübner e Malheiros, 1997).
Esta série de estudos sobre compreensão da leitura reflete a
potencialidade do paradigma de equivalência de estímulos para
gerar novas pesquisas, os avanços conceituais decorrentes de seus resultados
e seu potencial para o desenvolvimento tecnológico, gerando novas tecnologias
e aperfeiçoando as existentes. A equivalência de estímulos
tem mostrado grande potencial como instrumento de análise comportamental
e tem gerado conhecimento relevante para a área educacional e clínica
(de Rose, 1993).
O Paradigma da
Equivalência de Estímulos: Avanços conceituais e Metodológicos
Wilkinson e McIlvane (no prelo) ressaltam a importância dos avanços
conceituais e metodológicos na análise do comportamento, proporcionado
pelo paradigma de equivalência de estímulos ao distinguir operacionalmente
as relações restritas aprendidas como pares discretos (relações
condicionais) das relações emergentes ou gerativas que caracterizam
o comportamento simbólico (relações de equivalência).
Os significados do ponto de vista comportamental não são atributos
ou propriedades inerentes às palavras, mas propriedades das respostas
às palavras (Catania, 1999). Sidman retoma a questão do significado,
mas fazendo uma tradução comportamental dos termos simbólico,
referente e significado. Critica as teorias tradicionais de atribuir aos significados,
existência própria e independente do comportamento dos usuários
da linguagem, além de atribuir-lhes um status causal. As palavras seriam
dotadas de significado, sendo este considerado inerente às próprias
palavras. Esta noção de significado tem como referencial teórico
uma visão mentalista de representação psíquica,
considerando este conteúdo mental o determinante das ações
do falante e do ouvinte. No paradigma de equivalência de estímulos
proposto por Sidman, a análise do comportamento simbólico centrada
no processo de representação psíquica é transferida
para uma análise centrada na relação funcional entre
estímulos e enttr estímulos e respostas resultantes da exposição
direta às contingências de no mínimo quatro termos. Portanto,
em suas formulações, Sidman (1986) propõe uma ampliação
da noção de contingência para a análise dos repertórios
envolvidos na compreensão da linguagem, estendendo a contingência
de três termos proposta por Skinner (1992/1957) para a análise
do comportamento verbal. Nelson (2001) apresenta uma comparação
detalhada entre a noção de significado em Skinner e Sidman,
pontuando aspectos divergentes e convergentes das duas formulações.
A noção de significado como relações de equivalência
pressupondo desempenhos emergentes que não foram explicitamente ensinados
e a noção de substitutabilidade têm conduzido a críticas
no sentido da reconsideração do termo significado no sentido
tradicional de referência. No entanto, os desempenhos emergentes decorrem
da exposição direta às contingências estabelecedoras
de outras relações entre os estímulos. Talvez respondendo
às críticas e a supervalorização do seu modelo,
Sidman (1997) argumenta que "esta simples hipótese não
pressupõe nenhuma estrutura, entidade ou processo inobservado ou inobservável.
Isto apenas coloca nossas observações dentro de um sistema descritivo
específico" (p. 140). Acrescenta, ainda, que "não
usa relação de equivalência para se referir a qualquer
entidade teórica ou processos ou entidades que estejam além
da observação. Para mim o termo simplesmente sumariza um conjunto
de regularidades observadas" (p. 143)
A noção de significado para Sidman difere das teorias tradicionais
de significado, mas mantém alguns problemas em sua definição
pelo uso do termo substitutabilidade para se referir ao significado. Em suas
tentativas de elaborar modelo analítico-comportamental da linguagem,
substitui a representação psíquica centrada no significado
pela substitutabilidade entre estímulos deslocando a análise
baseada em processos de representação mental para uma análise
de contingências baseada na relação funcional entre estímulos
e entre estímulos e respostas, mudando no foco da análise.
Além da ampliação da noção de contingência,
a pressuposição de desempenhos emergentes requeriu uma nova
terminologia denominada por Sidman (1997) como a "linguagem de equivalência"
(p. 143). Apesar de defender o uso de terminologia existente e criticar a
criação de novas, Sidman propõe uma nova terminologia,
justificando que a linguagem de equivalência provê um sistema
descritivo não disponibilizado pelas formulações técnicas
pré-existentes. Sidman afirma: "eu não creio que qualquer
conjunto de termos clássicos analítico-comportamental envolva
os resultados dos experimentos que eu descrevi" (p. 144). Além
disso, ele argumenta que esta nova terminologia não "apropria-se
de quaisquer termos clássicos ou conceitos; ao contrário, ele
estende alguns deles" (p. 144).
Sidman não teve a pretensão de propor um modelo teórico
do comportamento verbal, mas apenas um modelo descritivo de alguns fenômenos
comportamentais emergentes baseados na teoria matemática dos conjuntos,
que pudesse contribuir para a compreensão de comportamentos mais complexos
como a cognição e linguagem. Neste sentido, Sidman (1997) comenta
de forma parcimoniosa e humilde:
A relação de equivalência, por exemplo, pode ser vista
como um substituto rigoroso para o conceito popular de correspondência
entre palavras e coisas, um conceito que, como Skinner convincentemente argumenta,
não é esclarecedor (Skinner, 1957). A relação
de equivalência não proporciona uma teoria da correspondência.
Fornece uma descrição experimentalmente verificável de
pelo menos alguns dos fenômenos que levam as pessoas a falar sobre correspondência.
Eu creio que sempre que as pessoas falam sobre significado como correspondência,
as relações de equivalência estão envolvidas (p.
144, grifos do autor).
REFERÊNCIAS
Bush, K., Sidman, M., & de Rose, T. (1989). Contextual control of emergent
equivalence relations. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 51,
29-45.
Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição, (4ª ed.). Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
de Rose, J. C. (1993). Classes de estímulos: implicações para uma análise comportamental da cognição. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 9, 283-303.
de Rose, J. C., Garotti, M., & Ribeiro, I. (1992). Transferência de funções discriminativas em classes de estímulos equivalentes. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 8, 43-65.
de Rose, J. C., McIlvane, W. J., Dube, W. V., Galpin, V. C., & Stoddard, L. T. (1988a). Emergente simple discrimination established by indirect relation to differential consequences. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 50, 1-20.
de Rose, J. C.,
McIlvane, W. J., Dube, W. V., & Stoddard, L. T. (1988b). Stimulus class
formation and functional equivalence in moderately retarded individuals'conditional
discrimination. Behavioural Processes, 17, 167-175.
de Rose, J. C., Souza, D. G., & Hanna, E. S. (1996). Teaching reading
and spelling: Stimulus equivalence and generalization. Journal of Applied
Behavior Analysis, 29, 451-469.
de Rose, J. C., Souza, D. G., Rossito, A. L., & de Rose, T. M. S. (1989). Aquisição de leitura após história de fracasso escolar. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 5, 325-346.
de Rose, J. C., Souza, D. G., Rossito, A. L., & de Rose, T. M. S. (1992). Stimulus equivalence and generalization in reading after matching to sample by exclusion. Em S. C. Hayes & L. J. Hayes (orgs.), Understanding Verbal Relations (pp. 69-82). Reno, EUA: Context Press.
de Rose, J. C., Thé, A. P. & Kato, O. M. (1995). Effects of nodal structure on equivalence class formation and transfer of discriminative functions. Paper presented at the 21st Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Washington, DC.
Dougher, M. J., Augustson, E., Markhan, M. R., Greenway, D. E., & Wulfert, E. (1994). The transfer of respondent eliciting and extinction functions through stimulus equivalence classes. Jounal of the Experimental Analysis of Behavior, 62, 331-351.
Eco, U. (2000).
Tratado de Semiótica Geral, (3ª ed.). São Paulo: Editora
Perspectiva.
Epstein, I. (1991). O Signo. Sào Paulo: Editora Ática.
Fields, L., & Verhave, T. (1987). The structure of equivalence classes. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 48, 317-332.
Fields, L., Verhave, T., & Fath, S. (1984). Stimulus equivalence and transitive associations: A methodological analysis. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 42, 143-157.
Gatch, M. & Osborne, J. (1989). Transfer of contextual stimulus function via equivalence class development. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 51, 369-378.
Greenway, D. E., Dougher, M., & Wulfert, E. (1996). Transfer of consequential functions via stimulus equivalence: Generalization to different testing contexts. The Psychological Record, 46, 131-143.
Green, G., Stromer, R., & Mackay, H. A. (1993). Relational learning in stimulus sequences. The Psychological Record, 43, 599-616.
Hayes, S. C., Kohlenberg, B. K., & Hayes, L. J. (1991). The transfer of specific and general consequential functions through simple and conditional equivalence classes. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56, 119-136.
Hübner D'Oliveira, M. M., & Matos, M. A. (1993). Controle discriminativo na aquisição da leitura: efeito da repetição e variação na posição das sílabas e letras. Temas em Psicologia, 2, 99-108.
Kato, O. M. (1999).
Variáveis que Afetam a Formação de Classes de Estímulos:
Relações de Controle e Interação entre Topografia
de Respostas e Número de Nódulos. Tese de Doutorado apresentada
ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São
Paulo-SP.
Kohlenberg, B., Hayes, S. C., & Hayes, L. (1991). The Transfer of contextual
control over equivalence classes through equivalence classes: A possible model
of social stereotyping. Journal of the Experimental Analysis of Behavior,
56, 505-518.
Lazar, R. (1977). Extending sequence-class membership with matching to sample. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 27, 381-392.
Lazar, R. M., & Kotlarchyk, B. J. (1986). Second-order control of sequence-class equivalences in children. Behavioural Processes, 13, 205-215.
Lynch, D., & Green, G. (1991). Development and crossmodal transfer of contextual controlof emergent stimulus relations. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56, 139-154.
Lopes Jr., J.,
& Matos, M. A. (1995). Controle pelo estímulo: Aspectos conceituais
e metodológicos acerca do controle contextual. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, 11, 33-39.
Orlandi, E. P. (1986). O que é Lingüística. São
Paulo: Editora Brasiliense.
Mackay, H. A., Kotlarchyk, B. J., & Stromer, R. (1997). Stimulus Classes, Stimulus Sequences, and Generative Behavior. Em D. M. Baer & E. M. Pinkston (eds.) Enviroment and Behavior (pp. 124-137). Boulder, CO: Westview.
Matos, M. A., Hübner, M. M., Peres, W. (1999). Leitura generalizada: procedimentos e resultados? (2ª ed.). Em R. A. Banaco (Org.), Sobre Comportamento e Cognição, Volume 1, Santo André-SP: Editora ARBytes.
Matos, M. A., Peres, W., Hübner, M. M., & Malheiros, R. H. S. (1997). Temas em Psicologia, 1, 47-64.
Medeiros, J. G., Antonakopoulu, A., Amorim, K., & Righetto, A. C. (1997). O uso da discriminação condicional no ensino da leitura e escrita.Temas em Psicologia, 1, 23-32.
Medeiros, J. G., Monteiro, G., & Silva, K. Z. (1997). Temas em Psicologia, 1, 65-78.
Melchiori, L. E., Souza, D. G., & de Rose, J. C. (1992). Aprendizagem de leitura por meio de um procedimento de discriminação sem erros (exclusão): uma replicação com pré-escolares. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 8, 101-111.
Melchiori, L. E., Souza, D. G., & de Rose, J. C. (2000). Reading, equivalence, and recombination of units: A replication with students with different learning histories. Journal of Applied Behavior Analysis, 33, 97-100.
Mota, O. S. & Hegenberg, L. (1975). Introdução. Em O. S. Mota & L. Hegenberg (eds.). Semiótica e Filosofia (Textos escolhidos de Charles Sanders Peirce). (pp. 9-36). São Paulo: Editora Cultrix, Editora da Universidade de São Paulo.
Nelson, T. (2001). A noção de Significado em B. F. Skinner e em M. Sidman. Dissertação de Mestrado. Belém-PA: Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento.
Peirce, C. S. (1975). Semiótica e Filosofia (Textos escolhidos de Charles Sanders Peirce). São Paulo: Editora Cultrix, Editora da Universidade de São Paulo.
Santaella, L. (1983). O que é Semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense.
Saussure, F. (1995). Curso de Lingüística Geral, (7ª ed.). São Paulo: Editora Cultrix.
Sidman, M. (1971). Reading and auditory-visual equivalences. Journal of Speech and Hearing Resarch, 14, 5-13.
Sidman, M. (1986). Functional Analysis of emergent verbal classes. In T. Thompson & M. D. Zeiler (Eds.) Analysis and integration of behavioral units (213-245). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum Associates.
Sidman, M. (1992). Equivalence relations: Some basic considerations. Em: S. C. Hayes & L. J. Hayes (Orgs.), Understanding verbal relations (pp. 15-27). Reno, EUA: Context Press.
Sidman, M. (1994). Equivalence relations: A research story. Boston, MA: Authors Cooperative.
Sidman, M. (1997). Equivalence: A theoretical or a descriptive model? Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 23, 125-145.
Sidman, M., & Cresson, O. (1973). Reading and transfer of crossmodal stimulus equivalences in severe retardation. American Journal of Mental Deficiency, 77, 515-523.
Sidman, M., & Tailby, W. (1982). Conditional discrimination vs. matching to sample: An expansion of the testing paradigm. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 37, 5-22.
Skinner, B. F. (1992). Verbal Behavior. Acton, MA: Copley Publishing Group. (Original publicado em 1957).
Souza, D. G., Hanna, E. S., de Rose, J. C., Fonseca, M. L., Pereira, A. B., & Sallorenzo, L. H. (1997). Temas em Psicologia, 1, 33-46.
Wilkinson, K.
M. & McIlvane, W. J. (no prelo). Methods for studying symbolic behavior
and category formation: Contributions of stimulus equivalence research. Developmental
Review.